FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ‘CINECONVERSAS’ E OS USOS DE ‘IMAGENSSONSSENTIMENTOS’
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ‘CINECONVERSAS’
E OS USOS DE ‘IMAGENSSONSSENTIMENTOS’
TEACHER TRAINING: 'CINECONVERSATIÓN’
AND THE USES OF 'PICTURESSOUNDSFEELINGS'
Noale Toja
UERJ -ProPEd / Brasil
Maria Morais
UERJ -ProPEd / Brasil
Rebeca Brandão
UERJ -ProPEd / Brasil
Linha 3: Culturas da imagem e processos de mediação.
Participação no III Seminário de Artes Visuais - Instituto Ëscuela Nacional de Bellas Artes - Universidad de la República Uruguay
Resumo
As ‘cineconversas’, na formação de professores, nos convidam a criar outros jeitos e gestos curriculares que envolvem imagens, sons e sentimentos. São narrativas que estimulam a pensar os diferentes ‘dentrofora’ das escolas, nas múltiplas redes educativas, aquelas que formamos e as que nos formam. Assim nos perguntamos, como é criar conversas com filmes que abordam a migração e a comida, acessando nossas realidades a partir daquilo que é ‘vistoouvidosentido’? Como ultrapassar os usos que fazemos dos filmes e partirmos para a produção de filmetes que expressam nossos sentimentos de vida, nos apropriando de celulares, câmeras, microfones, papelões, lãs, tecidos, como artefatos de linguagens estéticas e éticas? Estas são inquietações que este ensaio traz, a partir das experiências com o trabalho realizado no componente curricular, chamado Pesquisa e Prática Pedagógica, no curso de formação de professores, valorizando diferentes sensações nos ‘fazeressaberes’ educativos.
Palavras-chave: Redes educativas. Produção de vídeos. ‘Cineconversas’. Currículos.
Abstract
The ‘Cineconversations’ in teacher training invites us to create other curricular wais and gestures that involve ‘imagessoundsfeelings’. They are narratives that stimulate the thinking of the different 'insideout' of schools, the multiple educational networks, those that form and those that form us. So we ask ourselves, what is it like to create conversations with films that approach migration and food, accessing our realities from what is 'seen or perceived'? How can we go beyond the uses we make in the consumption of the films and start producing small filters that express our feelings of life, making use of cell phones, cameras, microphones, cardboard, wool, textiles, as artifacts of aesthetic and ethical languages? These are anxieties that this essay brings from the experiences with the work carried out in the curricular component, called Research and Pedagogical Practice, in the training course of teachers, stressing other sensations in the educational ‘do know’.
Key words: Educational networks. Video production. 'Cineconversations'. Curriculum.
Caminhar… e criar… e narrar…
O que é conversar? Onde reside a “potência do falso” (DELEUZE, 2005)? Quem são os “personagens conceituais” (DELEUZE; GUATTARI, 1992) que, como intercessores, no caminhar... e criar... e narrar..., fabricam diferentes fabulações com ‘discentesdocentes’? Como os ‘usos’ (CERTEAU, 2014) de filmes revelam as relações cotidianas tramadas nas múltiplas redes educativas que formamos e nas quais nos formamos (ALVES, 2015)?
Essas indagações atravessam nossa caminhada nesses ‘fazeressaberes’ no GRPesq “Currículos, redes educativas, imagens e sons”, na linha de pesquisa “Cotidianos, Redes Educativas e Processos Culturais”, que pesquisa atualmente as relações entre processos curriculares e movimentos migratórios, no Programa de Pós-graduação em Educação (ProPEd), na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.
Quando nos colocamos em ‘conversa’ com Certeau, Maturana, Deleuze, Guattari e outros autores, trazemos para as pesquisaa ‘nosdoscom’ os ‘nos/dos/com os cotidianos, os gestos, os olhares, os sorrisos, os conflitos, as palavras, as imagens, os sons, os toques, os cheiros, os gostos, porque todos esses afetos são intrínsecos aos ‘praticantespensantes’ dos cotidianos (OLIVEIRA, 2012).
A experiência aqui narrada foi vivenciada por nós doutorandas do GRPesq “Currículos, redes educativas, imagens e sons”. A pesquisa acontece a partir dos encontros com uma turma de formação de professores no curso de Pedagogia, num componente curricular chamado Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) em que atuamos, nos sextos e sétimos períodos da Graduação de Pedagogia.
No início da pesquisa, desenvolvemos a ideia daquilo que chamamos de cineconversas, ao assistirmos filmes que trazem a temática da migração e conversarmos com as questões cotidianas que, inspiradas por esses filmes, são apresentadas pelo grupo. As narrativas cinematográficas estimulam ‘conversas’ acerca dos processos que costuram os diferentes ‘dentrofora’ das escolas.
Num segundo momento, incentivamos a criação de filmetes de até três minutos, com os ‘fazeressaberes’ de todos os envolvidos no processo. São questões que emergem nesses encontros que levam à tessitura de ‘conhecimentossignificações’ e à produção desses vídeos . A realização coletiva desses filmetes, que abordam situações cotidianas e artefatos culturais de pessoas migradas de outros países, nos coloca em devires e acontecimentos com as possibilidades de ‘conversas’ que trazem elementos presentes nos currículos. Essas experiências com futuros docentes trazem sentidos múltiplos de potência na criação individual e coletiva. Isso se reflete nas ações de ‘ser professora e ser professor’ que criam com seus estudantes, a partir de ‘conversas’.
Os filmes ‘vistosouvidossentidos’, as conversas que acontecem acerca deles, os textos lidos, os vídeos criados, os autores com os quais conversamos etc, são para nós “personagens conceituais” (DELEUZE, 2005), permitindo que, com eles, pensemos os cotidianos escolares, com os desafios e as soluções que seus ‘praticantespensantes’ encontram no dia a dia.
Nas conversas com os discentes surgem questões de deslocamentos, caminhadas físicas, emocionais, e relações de poder e afeto que aparecem na relação com os fazeres diversos, entre eles as práticas culinárias surgem como ambientes de afirmação das singularidades, que permeiam os ‘fazeressaberes’ culturais. Queremos assim, chamar a atenção para o uso da arte do cozinhar (GIARD, 2013), nas suas tramas e artimanhas, tanto na criação culinária quanto fílmica. Nessas conversas existem as bricolagens realizadas na criação coletiva, presente nos usos de artefatos diversos (CERTEAU, 2014), que são pautados nos roteiros, nos personagens, no ato de filmar e montar as narrativas. Desta forma, num hibridismo de linguagens tecnológicas, trabalhamos as questões que atravessam os ‘fazeressaberes’ docentes, fílmicos e culinários, nos usos das astúcias e artefatos como um bricoler ou um brincante.
‘Cineconversas’ na formação de professores: O que é conversar e onde reside a potência do falso?
A conversa nos propõe deslocamentos, alterando nossas emoções e afirmando nossas diferenças (ALVES, FERRAÇO, 2018). São mediações, bifurcações numa caminhada que leva as múltiplas criações e narrativas. E onde reside a potência do falso? Talvez nas criações e narrativas? Estamos o tempo todo na criação de realidades; são conversas que nos colocam em devires de afetos, conflitos, crenças e descrenças, julgamentos e compaixões. Criamos situações, sensações e sentimentos que reforçam padrões e ao mesmo tempo nos subvertem em nossos ‘fazeressaberes’. Colocar-nos como criadores na potência do falso (DELEUZE, 2005) é nos considerar em eterna conversa em diferentes ‘espaçostempos’ atualizando-nos nos acontecimentos, experimentando a “vida se fazendo em sua permanente abertura e complexidade para a novidade do mundo” (ALVES, FERRAÇO, 2018, p. 42).
Fazendo uso da ideia da potência do falso para as ‘cineconversas’, atividades realizadas com estudantes da Graduação de Pedagogia, trouxemos os filmes ‘vistosouvisdossentidos’ como mobilizadores de afetos, emoções, sensações, memórias e pensamentos acerca dos ‘fazeressaberes’ ‘nosdoscom’ os cotidianos. As ‘conversas’ com as outras realidades, a partir das experiências dos ‘discentesdocentes’ possibilitaram atravessamentos outros, em que os filmes como lócus central dessas pesquisas, ‘metaforizam’ as experiências vividas por cada um, mediando a relação entre ‘ficção-realidade’ e ‘virtualidade-realidade’. Quando juntamos as possibilidades de lidar com a ficção-realidade-virtualidade, queremos pensar acerca de como são criadas as realidades como possíveis verdades, numa ideia de criação e mediação de crenças, como realça Certeau:
Entendo “crença” não o objeto do crer (um dogma, um programa etc), mas o investimento das pessoas em uma proposição, o ato de enunciá-la considerando-a verdadeira – noutros termos, uma “modalidade” da afirmação e não o seu conteúdo. [...] Importa então interrogar-se sobre os avatares do crer em nossas sociedades e sobre as práticas originadas a partir desses deslocamentos.
[...] Hoje não basta mais manipular, transportar, refinar a crença. É preciso analisar-lhe a composição, pois há a pretensão de fabricá-la artificialmente. (CERTEAU, 2014, p. 252-253).
Nesta conversa com Certeau, em que ele ressalta a ideia de fabricar artificialmente a realidade como crença, fazemos a mediação com Deleuze, que nega a ideia de realidade, fundamentando suas ideias, na criação da potência do falso, como um conjunto de possíveis atualizações permanentes de virtualidades. Porém, Deleuze também diz que a troca permanente entre o virtual e o atual pode levar à cristalização (ÉRIC ALLIEZ, 1996, p.54). Será então que quando a virtualidade se cristaliza torna-se realidade?
Os filmes, assim, seriam compreendidos como a potência do falso, criação de virtualidades que inspiram realidades? Ou seriam ficções inspiradas em realidades e que se virtualizam pelos afetos e crenças? Essas questões são inspirações para sentirmos nossa capacidade de criação de ‘realidades-virtualidades’ na formação de professores. É a possibilidade de nos vermos potentes como criadores de quaisquer realidades que queiramos acreditar.
Dessa forma, os elementos da linguagem do cinema são dispositivos que nos ajudam a sentir e pensar como as narrativas nos afetam e como afetamos as narrativas nas ‘conversas’ em torno das temáticas apresentadas nos filmes. São elas que nos ajudam a atuar nos ‘fazeressaberes’ curriculares na formação de professoras/es.
Ao acompanharmos as turmas do componente curricular PPP, desenvolvemos em dois semestres, nos anos de 2017-2018, atividades de ‘cineconversas’, tendo a migração como tema disparador nas conversas com os participantes; e a inspiração para a realização de dois filmetes, abordando os deslocamentos, as culturas e as comidas.
No produção dos filmetes, pensamos as ‘práticasteorias’ mediadas pela apropriação dos celulares, computadores, câmeras de vídeo, microfones, softwares de edição de imagens e sons, como artefatos pedagógicos e curriculares (CERTEAU, 2014).
Atualmente na pesquisa com os movimentos migratórios, estamos atentos às maneiras como as escolas criam ambientes de trocas dos ‘fazeressaberes’ entre aqueles que migram e aqueles que acolhem. Daí, a importância de criar num sentimento de alteridade, ao reconhecermos a nós e aos outros, como Maturana (2002) diz, “como um legítimo outro”.
Por isso, acreditamos que, como ‘discentedocente’ estamos em eternas ‘conversas’, mediações, que criam, atualizam e virtualizam possíveis realidades, num processo de tessitura de ‘conhecimentossignificações’.
Os filmes - narrativas dos cotidianos
Os filmes ‘vistosouvidossentidos’ são agenciamentos que revelam empatias nas criações das realidades dos estudantes. Esses agenciamentos se dão pelas questões sociais ordinárias, e pelas emoções das pessoas, já que as fronteiras entre o local de onde partem, ou para onde vão, está impregnado de frustrações, mas também de sonhos e criações. São questões relacionadas aos modos de vida, tais como: estar numa universidade pública, chegar a esta universidade depois de uma jornada de trabalho; viver o enfrentamento da violência urbana com guerra do tráfico, da milícia e da polícia, enfrentar situações precárias de moradia; mediar os conflitos e preconceitos existentes nos tratos entre pessoas de diferentes fronteiras territoriais, culturais e sociais. Esses limites e fronteiras representados em diferentes ‘espaçostempos’ pelas histórias de vida dos próprios estudantes, que se reconhecem, muita vezes, nos afetos que os filmes proporcionam.
Caminhar… Esperar...Caminhar…
No ‘cineconversa’, exibimos filmes que mostram os conflitos existentes nos movimentos migratórios. “A corrida do ouro” de Chaplin foi um desses filmes. Ele aborda a necessidade de enfrentar questões financeiras e sociais, que levam as pessoas a se submeterem a situações adversas e de intensos conflitos existenciais e relacionais. Exibimos também as próprias produções do grupo de pesquisa, na busca de incentivar os usos dessas produções como possíveis conteúdos e usos da linguagem para o desenvolvimento de projetos criativos em sala de aula.
Os filmes trazem, de maneira metafórica, por meio de suas imagens e de seus sons, a ideia do “caminhar, caminhar, esperar, esperar”. Afinal, quem espera depois de longas caminhadas, tem ainda a esperança de que vai levar os caminhantes a outros “caminhos” que forjam uma vida melhor. Essa noção do caminhar extrapola o estado físico da ação e invade nossa imaginação de projeções desse constante caminhar. Sem precisar a duração dessa espera, que pode levar minutos, horas, dias, meses, anos ou a eternidade, cria um caminhar projetado e talvez nunca alcançado, mas que vai gerar outras experiências pelos ‘fazeressaberes’ que os cotidianos vão apresentando e tecendo.
O caminhar às vezes tem pontos de chegada, em muitas outras, possui pontos flutuantes, imprevisíveis, em que não se sabe ao certo o que será encontrado e onde se poderá pousar. E o pousar pode ser apenas o esperar, esperar, esperar, numa esquina, numa calçada, num botequim, numa rodoviária, numa estação, numa fila de emprego, numa praça.
Essa é uma imagem dos migrantes nordestinos, dos migrantes de qualquer interior, de migrantes de países em guerra, migrantes de países que vivem em situação de risco, e tantos outros que se assemelham com as experiências das pessoas que moram nas favelas e fogem das guerras do tráfico, que fogem das balas perdidas, daqueles que se acham e se perdem quando migram de um ponto ao outro da cidade, e muitas vezes de uma cidade a outra, todos os dias para trabalhar ou estudar.
Os filmes ‘assistisdosouvidos’ entram nessa conversa com a migração que nos permeia, por sermos pessoas que vêm de diferentes regiões do país, sobretudo do nordeste, muitos que moram nas favelas e vivem conflitos, criando narrativas num linguajeio (MATURANA, 2002) com os códigos próprios de linguagem: as gírias, os comportamentos, os adereços, jeitos de vestir, de caminhar, de cozinhar, de comer, de trabalhar, estudar, brincar e de fazer seu lazer. Esses códigos, como artefatos culturais, afirmam modos de viver, que trazem à tona um sentimento de ‘estrangeirismo’ em ambientes que não se tem sentimento de pertença, sejam eles no bairro, na comunidade, na escola, família, igreja e também em diferentes classes sociais, econômicas, em diferentes crenças políticas, religiosas...
A sensação de estrangeirismo, ou estranhamento por estar numa condição de diferente é revelada por artefatos culturais que passam a ser artefatos curriculares, nos processos educativos nos ‘dentrofora’ das escolas. Essas impressões foram abordadas pelos/as estudantes do PPP, quando foram levantadas as questões de guerra com tráfico, a relação da polícia e das milícias nas comunidades, os preconceitos em relação aos nordestinos, ou as pessoas que vêm de outras regiões do país e do mundo; e os conflitos enfrentados na escola que levam estudantes e docentes a buscarem nas suas práticasteoriaspráticas meios que criem um ambiente favorável na tessitura de conhecimentossignificações, que muitas vezes são invisibilizados.
O cozinhar: tecer uma rede de sabores e saberes
Enredar-se na arte do cozinhar é saborear junto à turma do PPP, diferentes paladares e modos de preparo como artefato político de resistência e criação na formação de professores. São singularidades garantidas pela sabedoria que se engendra por meio da comida, como uma potência. A comida traz um ambiente de memórias e afetos que nos colocam em ‘espaçostempos’ diversos, revelando processos de subjetivação em torno do cuidado, do controle, das maneiras de desenvolver astúcias, nas bricolagens para adaptação de pratos culinários.
A cozinha é um espaço de poder, de trocas, de magia, de conflitos, de amores, de movimentos alquímicos. Assim como o cozinhar cria esse ambiente alquímico, o currículo, a sala de aula também cria essa magia de temperar os sabores de ‘aprenderensinar’. A conversa com o grupo em torno da comida trouxe intimidades, jeitos particulares de ‘fazeressaberes’. Um exemplo disso é o cuscuz, um prato nordestino que é preparado de diferentes formas, dependendo da região do país, que revela as particularidades dos usos, que muitas vezes estão relacionados com as ofertas dos produtos, clima, e a criação nos modos de fazer. Isso mostra, dentro do processo educativo, que não há uma verdade absoluta, ou o certo e o errado, e sim modos diversos de apropriação e criação.
Trouxemos essa conversa para a produção audiovisual e produzimos dois vídeos de baixo custo, usando celulares, computadores, câmeras, microfones, papelão, lã, cola, tesoura, lápis cera e a criatividade. A intenção neste fazer era sensibilizar para as possíveis maneiras de usar artefatos tecnológicos como fazeres curriculares. Essas experiências de produção ‘imagéticassonoras’ com futuros docentes criam ‘espaçostempos’ de sensibilidades, de ‘conhecimentossignificações’, de sentidos múltiplos de potência – de criação individual e coletiva; de ética e estética – que afirmam possibilidades múltiplas de ‘ser professora e professor’ que cria com os estudantes.
Trabalhamos em um dos filmetes com o tema comida como relação política e de afetos. Isso aconteceu por termos na turma, alguns alunos do nordeste que quiseram mostrar as diferenças culturais que existem nesta região brasileira. Dessa forma, foram acessadas memórias, sensações das infâncias, os modos de viver, a chegada ao Rio de Janeiro, os encontros das tradições nas feiras e festas e o sentimento de pertencimento e de orgulho de ser desse lugar.
O roteiro criado coletivamente, conta a história de um casal paulista, que chegando ao Rio de Janeiro, deseja visitar o Centro de Tradição Nordestina, no bairro de São Cristóvão. Ao chegar à feira o casal se deslumbra com a cultura, a música, a dança. Num determinado momento, com fome, procura um lugar para almoçar e se depara com os pratos nordestinos que por sua aparência ou pelo preparo causam um certo estranhamento.
Para produzir esse vídeo, usamos imagens de alunas da Pedagogia, que foram gravar e fotografar na feira de São Cristóvão, como é conhecido o CTN.
Com essas imagens capturadas o grupo criou máscaras que expressassem os sentimentos intencionados no roteiro e que marcassem as cenas gravadas.
Foram gravadas cenas do casal dançando, vendo os alimentos, tendo reações diante desses alimentos, como mostra nas cenas da imagem 1.
Imagem 1: “Sarapatel” – montagem reunindo imagens da Feira de São Cristóvão e estúdio em chroma key.
Ao final, o casal escolhe um prato que tem uma aparência mais convidativa, aos olhos daqueles que estranham determinadas comidas. O prato escolhido foi o cuscuz feito de milho, que rendeu várias discussões acerca dos modos de preparo, ingredientes, e por ser um prato típico de diferentes regiões, os jeitos de como são preparados, também são afetados. Neste filme, após esse conflito da escolha da comida, o casal come e volta a dançar.
Todo o processo de produção de gravação e da montagem foi realizado junto com as alunas e alunos. A manipulação e a criação de realidades se materializa no truque com a técnica do chroma key, como mostra as cenas na imagem abaixo. Nesta experiência também observamos bricolagens com os usos de artefatos como sacolas de papel transformando-se em máscaras com colagem de emojis capturados na internet.
Imagem 2 : Gravação no estúdio de chroma key montando na sala do grupo de pesquisa.
Atuar em diferentes redes educativas, nos proporciona a troca dos ‘fazeressaberes’ entre os estudantes, que trazem tantas outras experiências artísticas. Um dos alunos, que vem do teatro de bonecos e máscaras e nos ensina a fazer máscaras com caixas de papelão, que usamos como artifício, mostrando que podemos proteger a identidade de crianças das escolas, quando estas participam de produções audiovisuais e não podem ser identificadas .
Imagem 3: Filme “O Presente” – máscaras produzidas com caixas de papelão.
No roteiro do segundo vídeo, que tratava das relações culturais, havia uma cena com ambiência romântica. Para produzir essa cena precisamos transformar em penumbra um ambiente totalmente claro, observando que não tínhamos condições de interromper a luz. Tivemos então que fazer essa alteração na gravação. A manipulação dos dispositivos tecnológicos que são agregados às câmeras de vídeo e aos de determinados celulares ou aplicativos, alteram o diafragma e abertura do obturador. Ao alterarmos esses dispositivos, afinando diafragma e obturador, chegamos à luz romântica, sem acabar com a claridade que incidia no espaço.
Esta experiência mostrou as possibilidades de criação de realidades, revelando a potência do falso nas intenções, emoções, sensibilidades e afetos. Com esses usos tecnológicos nos vemos criadores de situações inexistentes, mas possíveis, que se realizaram pelas nossas astúcias, bricolagens e, pelo desejo de criar e de crer.
Imagem 4: Filme “O Presente” – cena romântica.
Banquete
A mesa posta, o compartilhamento de sabores e saberes, confraternizando os processos e o resultados do trabalho.
Nesse compartilhamento de impressões, também foram compartilhados pratos culinários. Neles, cada pessoa trouxe um pouco de sua cultura e de seus modos de afetos traduzidos na comida.
Vimos como forjamos e criamos realidades e significações em ‘fazeressaberes’ democráticos, lúdicos que acessam memórias, sentimentos, sensações e emoções.
Imagem 5: Exibição do filme e os quitutes compartilhados no encontro.
Atravessados pela ética e pela estética, estudantes e professoras/es como pessoas, em seus processos de subjetivação, tecem suas redes e são tecidos por tantas outras, atuando nos acontecimentos e nas brechas dosnoscom os cotidianos, como autoras e criadoras de seus ‘conhecimentosignificações’.
Referências
ALVES, Nilda. FERRAÇO, Carlos Eduardo. Conversas em rede pesquisas com os cotidianos: a força das multiplicidades, acasos, encontros, experiências e amizades. In: RIBEIRO, Tiago. SAMPAIO, Carmen Sanches, SOUZA, Rafael, (Orgs.). Conversa como metodologia de pesquisa, por que não? 1ª edição. Rio de Janeiro: Ayvu, 2018, p. 42.
ALVES, Nilda. Interrogando uma ideia a partir de diálogos com Coutinho. In GARCIA, Alexandre; OLIVEIRA, Inês Barbosa de (Orgs.). Nilda Alves – Praticantepensante de cotidianos. Rio de Janeiro: Autêntica, 2015.
CERTEAU, Michel. A Invenção do Cotidiano. 1 Artes do fazer. Tradução: Ephraim F. Alves, 3° edição. Petrópolis: Vozes, 2014, p.252-253).
CERTEAU, Michel; GIARD, Luce; MAYOL, Pierre. A invenção do cotidiano: 2 morar cozinhar. 9ª edição. Petrópolis: Vozes, 2013.
DELEUZE, Gilles; Conversações. Tradução: Peter Pál Pelbart. 1ª edição. São Paulo: Brasiliense, 2005.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é Filosofia? Tradução: Peter Pál Pelbart. 1ª edição. São Paulo: Ed.34, 1992.
OLIVEIRA, Inês Barbosa de.. Currículos e pesquisas com os cotidianos: o caráter emancipatório dos currículos ‘pensadospraticados’ pelos ‘praticantespensantes’ dos cotidianos das escolas. In: FERRAÇO, Carlos Eduardo. CARVALHO, Janete Magalhães (orgs.). Currículos, pesquisas, conhecimentos e produção de subjetividades. 1ª edição. Petrópolis: DP et Alii, 2012: 47-70.
Documentos eletrônicos
ALLIEZ, Éric. DELEUZE FILOSOFIA VIRTUAL. Tradução Heloisa B.S. Rocha. 1ª edição. São Paulo. Ed. 34, 1996, p. 54. Disponível em : <https://www.academia.edu/4486134/ALLIEZ_Eric_Deleuze_filosofia_virtual>. Acesso em: 12 de fevereiro de 2019.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Tradução: Laura Fraga de Almeida Sampaio. 3ª edição. São Paulo: Loyola, 1971, p. 57-59. Disponível em: <https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1867820/mod_resource/content/1/FOUCAULT%2C%20Michel%20-%20A%20ordem%20do%20discurso.pdf>. Acesso em: 24 de abril de 2019.
MATURANA Humberto. Emoções e Linguagem na educação e na política. Tradução: José Fernando Campos Fortes. 1ª edição. Belo Horizonte: Ed UFMG, 2002. Disponível em: <https://mariotavares.com.br/_textos/emocoeselinguagemnaeducacaoenapolitica.pdf>. Acesso em: 09/09/2018.
As autoras:
Noale Toja
Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação (ProPEd)/UERJ), na Linha Currículos, redes educativas, imagens e sons, sob orientação da professora Nilda Alves. Membro do Laboratório Educação e Imagem, (www.lab-eduimagem.pro.br) / UERJ. Colaboradora do Oi Kabum! Lab || http://oikabumlab.org.br/site/ .
Maria Morais
Doutoranda em Educação, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ProPEd/UERJ), sob orientação da professora Nilda Alves. Mediadora no curso de Licenciatura em Pedagogia no consórcio Cederj/UERJ.
Rebeca Brandão
Doutora em Educação (ProPEd/UERJ, 2018), Mestre em Educação (ProPEd, UERJ, 2014), Pedagoga (UERJ, 2010), professora do município do Rio de Janeiro, mediadora do curso de Pedagogia (CEDERJ/UERJ), membro do GRPESQ "Redes educativas, currículos, imagens e sons".
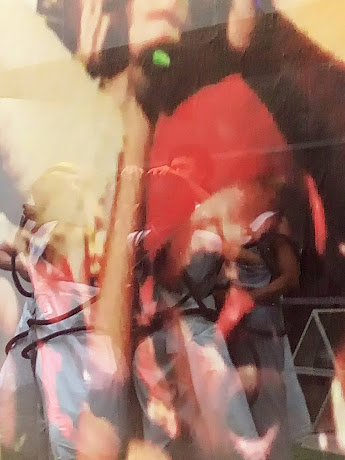

Comentários
Postar um comentário