Imagens e Sons de movimentos migratórios no cinema e na escola
Imagens e Sons de movimentos migratórios no cinema e na escola
Nilda Alves; Virgínia Louzada; Rebeca Brandão Rosa; Nilton Almeida; Izadora Agueda Ovelha; Noale Toja
IMAGENS E SONS DE MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS NO CINEMA E NAS ESCOLAS
NILDA ALVESUniversidade do Estado do Rio de Janeiro
VIRGíNIA LOUzADAUniversidade do Estado do Rio de Janeiro
REbECA bRANDãO ROSA Universidade do Estado do Rio de Janeiro
NILTON ALMEIDAUniversidade do Estado do Rio de Janeiro
IzADORA AGUEDA OVELhA Universidade do Estado do Rio de Janeiro
NOALE TOJAUniversidade do Estado do Rio de Janeiro
resumo
NILDA ALVESUniversidade do Estado do Rio de Janeiro
VIRGíNIA LOUzADAUniversidade do Estado do Rio de Janeiro
REbECA bRANDãO ROSA Universidade do Estado do Rio de Janeiro
NILTON ALMEIDAUniversidade do Estado do Rio de Janeiro
IzADORA AGUEDA OVELhA Universidade do Estado do Rio de Janeiro
NOALE TOJAUniversidade do Estado do Rio de Janeiro
resumo
O texto mostra as primeiras compreensões possíveis, em um grupo de pesquisa, dos múltiplos significados dos movimentos migratórios humanos a partir de filmes ‘vistosouvidos’, no desenvolvimento de um projeto com o qual se pretende compreender como uma ques- tão social grave e que atinge milhões de seres humanos entra nos processos curriculares cotidianos de escolas. Compreendendo as imagens e os sons desses filmes como ‘personagens conceituais’, tal como as pensa Deleuze, e a partir da articulação de inúmeras ‘redes educativas’ formadas pelos seres humanos e nas quais se formam, aprofundando pesquisas de Certeau acerca de cotidianos, foi possí- vel, na formação do grupo para os processos de pesquisa, ir perce- bendo esses movimentos de deslocamentos por múltiplos ‘espaços- tempos’, ocasionados por graves crises de diversos tipos – guerras, catástrofes ecológicas, crises econômicas que geram desemprego. Esses movimentos, neste período de formação do grupo, foram en- tendidos como os seguintes: 1) ‘andar, andar, andar’; 2) ‘esperar, esperar, esperar’. O grupo realizou, neste período, dois vídeos: um acerca do processo de formação do grupo e o outro acerca destes dois movimentos.
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018 221
222
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018
Imagens e sons de movimentos migratórios no cinema e nas escolas
Palavras-chave: Movimentos migratórios. Processos curriculares. Re- des educativas. Imagens e sons. Personagens conceituais.
ImAGes AND souNDs oF mIGrATorY moVemeNTs IN
CINemA AND IN sCHooLs
This work describes a research group’s first plausible interpreta- tions of the multiple meanings behind human migratory movements, based on ‘watched/listened to’ films. This forms part of a project aimed at better understanding how such a social issue as migration, affecting millions of human beings, is being dealt with in day-to- day school curricular processes. by considering images and sounds of films about migrations to be ‘conceptual characters’, much as Deleuze sees them, and based on the interaction of numerous ‘edu- cational networks’ created by human beings, and within whom they themselves are created, and by furthering the research of De Certeau about everyday life, the research process group was able to gradu- ally identify these displacements of multiple ‘spacetimes’ caused by different kinds of major crisis. These included war, environmental catastrophes and economic crises leading to high unemployment. Such movements, during the creation of the group, were defined as follows: 1) ‘walk, walk, walk’; 2) ‘wait, wait, wait’. During this period, the group made two videos: one on the process of forming the group, and the other on these two movements.
Keywords: Migratory movements. Curricular processes. Educational networks. Sights and sounds. Conceptual characters.
resumeN
ImAGes AND souNDs oF mIGrATorY moVemeNTs IN
CINemA AND IN sCHooLs
This work describes a research group’s first plausible interpreta- tions of the multiple meanings behind human migratory movements, based on ‘watched/listened to’ films. This forms part of a project aimed at better understanding how such a social issue as migration, affecting millions of human beings, is being dealt with in day-to- day school curricular processes. by considering images and sounds of films about migrations to be ‘conceptual characters’, much as Deleuze sees them, and based on the interaction of numerous ‘edu- cational networks’ created by human beings, and within whom they themselves are created, and by furthering the research of De Certeau about everyday life, the research process group was able to gradu- ally identify these displacements of multiple ‘spacetimes’ caused by different kinds of major crisis. These included war, environmental catastrophes and economic crises leading to high unemployment. Such movements, during the creation of the group, were defined as follows: 1) ‘walk, walk, walk’; 2) ‘wait, wait, wait’. During this period, the group made two videos: one on the process of forming the group, and the other on these two movements.
Keywords: Migratory movements. Curricular processes. Educational networks. Sights and sounds. Conceptual characters.
resumeN
AbsTrACT
ImÁGeNes Y soNIDos De moVImIeNTos
mIGrATorIos eN eL CINe Y eN LAs esCueLAs
El texto muestra las primeras interpretaciones posibles, dentro de un grupo de investigación, de los múltiples significados de los mo- vimientos migratorios humanos a partir de películas ‘vistasescucha- das’, durante el desarrollo de un proyecto, el cual pretende entender cómo una cuestión social grave y que afecta a millones de seres hu- manos entra en los procesos curriculares cotidianos de las escuelas. Viendo las imágenes y escuchando los sonidos de estas películas a modo de ‘personajes conceptuales’, tal como pensado por Deleu- ze, y a partir de la articulación de innumerables ‘redes educativas’ formadas por seres humanos en donde se forman, profundizando investigaciones de Certeau sobre los cotidianos, ha sido posible, en la formación del grupo en procesos de investigación, percibir dichos movimientos de desplazamiento por múltiples ‘espaciostempos’, a causa de graves crisis de diversos tipos, como guerras, catástrofes
mIGrATorIos eN eL CINe Y eN LAs esCueLAs
El texto muestra las primeras interpretaciones posibles, dentro de un grupo de investigación, de los múltiples significados de los mo- vimientos migratorios humanos a partir de películas ‘vistasescucha- das’, durante el desarrollo de un proyecto, el cual pretende entender cómo una cuestión social grave y que afecta a millones de seres hu- manos entra en los procesos curriculares cotidianos de las escuelas. Viendo las imágenes y escuchando los sonidos de estas películas a modo de ‘personajes conceptuales’, tal como pensado por Deleu- ze, y a partir de la articulación de innumerables ‘redes educativas’ formadas por seres humanos en donde se forman, profundizando investigaciones de Certeau sobre los cotidianos, ha sido posible, en la formación del grupo en procesos de investigación, percibir dichos movimientos de desplazamiento por múltiples ‘espaciostempos’, a causa de graves crisis de diversos tipos, como guerras, catástrofes
Nilda Alves; Virgínia Louzada; Rebeca Brandão Rosa; Nilton Almeida; Izadora Agueda Ovelha; Noale Toja
Iniciar um projeto1 que deve se desenvolver com imagens e sons em filmes exige que o grupo responsável – formado de coordenado- ra (pesquisadora senior); cinco pesquisadoras juniors; quatro doutorandas; seis mestrandos; cinco bolsistas de iniciação científica – se or- ganize em torno de ‘conhecimentossignifica- ções’2 comuns e de expressões imagéticas e sonoras também comuns para estender o pro- jeto a outros ‘participantespensantes’ (oLIVeI- rA, 2012) de escolas, seus docentes e discen- tes. ou seja, em uma primeira etapa da pesqui- sa – qualquer pesquisa qualitativa – é preciso que o grupo que a desenvolve se transforme em um grupo focal, passando por inúmeras ex- periências – de absorção de ‘conhecimentos-
- 1 O projeto tem como título “Processos curriculares e movimentos migratórios: os modos como questões sociais se transformam em questões curriculares nas escolas” e conta com financiamento CNPq, CAPES, FAPERJ e UERJ. Está sendo desenvolvido entre mar- ço/2017 e fevereiro/2022. Participa da Cátedra Sergio Vieira de Mello, da ACNUR, na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
- 2 O desenvolvimento das pesquisas nos/dos/com os co- tidianos, corrente a que nos filiamos há mais de vinte e cinco anos, nos fez compreender que as dicotomias herdadas do modo de construção do pensamento na Modernidade significavam limites ao que precisáva- mos tecer quanto aos pensamentos necessários para compreender as redes educativas que estudávamos. Por esse motivo, adotamos essa forma de escrever os termos antes dicotomizados: juntando-os, grafando -os em itálico, entre aspas simples, pluralizando-os com frequência e, algumas vezes, invertendo o modo como são ditos e escritos (ex ‘práticateoria’ em lugar de teoria-prática; ‘aprendizagemensino’ e não en- sino-aprendizagem etc). No caso desta primeira ex- pressão – ‘conhecimentossignificações’ – entendemos que a toda criação de conhecimentos corresponde à criação de significações para o mesmo que lhes indica sua importância e a necessidade social.
significações’ criados por pesquisadores que trabalharam anteriormente a questão que se trabalha na pesquisa, à criação de processos de pesquisa que trabalharão, em seguida, com outros ‘praticantespensantes’ – no caso, do- centes e discentes de escolas de ensino médio. melhor ainda, que o grupo de desenvolvimen- to da pesquisa se deixe tomar pelas dúvidas e achados a que a pesquisa nos vai levar em seguida.
À leitura de textos que tratam das questões prático-teóricas e teórico-epistemológicas acerca da temática que se busca compreen- der – movimentos migratórios e currículos – se junta à produção de outros artefatos culturais e à busca de imagens e sons que tragam outras indagações. esses movimentos da pesquisa ar- ticulados e com todas as expressões culturais possíveis vão permitir a formação do grupo para atuar em conjunto. Desse modo, artefatos culturais diversos em textos, imagens e sons articulam as ‘conversas’3 necessárias que per- mitem, ao grupo de pesquisa envolvido, criar condições de ir avançando no processo de for- mação para atuar posteriormente com os ou- tros ‘praticantespensantes’ da pesquisa. Com isto, tornam-se ações comuns articuladoras: ‘verouvir’ os filmes que serão projetados pos- teriormente nos cineclubes criados, ‘conver- sando’ acerca do que mostram em conteúdo
3 Na corrente de pesquisa em que trabalhamos – pes- quisas nos/dos/com os cotidianos – as ‘conversas’ se apresentam como o lócus privilegiado de acumulação do material de pesquisa.
À leitura de textos que tratam das questões prático-teóricas e teórico-epistemológicas acerca da temática que se busca compreen- der – movimentos migratórios e currículos – se junta à produção de outros artefatos culturais e à busca de imagens e sons que tragam outras indagações. esses movimentos da pesquisa ar- ticulados e com todas as expressões culturais possíveis vão permitir a formação do grupo para atuar em conjunto. Desse modo, artefatos culturais diversos em textos, imagens e sons articulam as ‘conversas’3 necessárias que per- mitem, ao grupo de pesquisa envolvido, criar condições de ir avançando no processo de for- mação para atuar posteriormente com os ou- tros ‘praticantespensantes’ da pesquisa. Com isto, tornam-se ações comuns articuladoras: ‘verouvir’ os filmes que serão projetados pos- teriormente nos cineclubes criados, ‘conver- sando’ acerca do que mostram em conteúdo
3 Na corrente de pesquisa em que trabalhamos – pes- quisas nos/dos/com os cotidianos – as ‘conversas’ se apresentam como o lócus privilegiado de acumulação do material de pesquisa.
ecológicas, crisis económicas que generan desempleo. Dichos mo- vimientos, durante el periodo de formación del grupo, han sido en- tendidos como los siguientes: 1) ‘andar, andar, andar’; 2) ‘esperar, esperar, esperar’. El grupo realizó, durante el periodo, dos videos: uno sobre el proceso de formación del grupo y otro sobre estos dos movimientos.
Palabras clave: Movimientos migratorios. Procesos curriculares. Re- des educativas. Imágenes y sonidos. Personajes conceptuales.
Palabras clave: Movimientos migratorios. Procesos curriculares. Re- des educativas. Imágenes y sonidos. Personajes conceptuales.
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018 223
Imagens e sons de movimentos migratórios no cinema e nas escolas
e forma (o roteiro; os diálogos; técnicas cine- matográficas, a trilha sonora; uso de cores ou uso de preto e branco; as expressões usadas: comédia, drama etc; posição do diretor sobre a questão ‘migração’; momento conjuntural em que o filme foi feito; que questões levantam ao tema da pesquisa, etc.), bem como o modo como isto tudo foi sentido pelo grupo; ver li- vros infanto-juvenis acerca da questão e iniciar a produção de textos a serem transformados em livros; produzir vídeos acerca da questão estudada, do roteiro à produção ‘visualsono- ra’ do mesmo; produzir pequenos textos que nos mostrem as relações pessoais de cada um com as migrações, etc. Todos estes processos vão de textos com temáticas diversas e de pes- quisadores diversos (sZANIeCKI, 2014; sCHur- mANs, 2014; NoLAsCo, LeCHeNer, rIbeIro, 2014; meNeZes e reIs, 2013; GuÉroN, 2011; Go- DoY, 2011; VAsCoNCeLLos, 2009; CANDAu, 2009) a documentos oficiais de governos ou associa- ções internacionais (ACNur, 2011; 2014a; 2014b; 2015). A busca de textos e imagens (fotografias e vídeos) nas mídias, em especial, na Internet, bem como a escrita de textos diversos – arti- gos, trabalhos para congressos, etc. - comple- tam esta articulada formação do grupo de pes- quisa para se lançar em campo. estes proces- sos “de formação” podem ser visualizado emhttps://vimeo.com/2188180854.
Neste texto, não vamos, assim, trabalhar com a questão central do projeto em curso, mas sim buscar indicar como um grupo de pesquisa se prepara para trabalhar com recursos ima- géticos e sonoros – filmes - e outros artefatos culturais que funcionarão como elementos de mediação no projeto para chegarmos às ‘con- versas’ a serem desenvolvidas em cineclubes
4 Fazer vídeos é uma das atividades do projeto. Para nos formarmos para atuar com os ‘praticantespen- santes’ das escolas com os quais vamos trabalhar o grupo faz vídeos. Este foi o primeiro que realizamos. O segundo está sendo finalizado e tem por título “Ca- minhar, caminhar, esperar, esperar...”, que é explicado em nossas conclusões. O argumento do terceiro já está sendo criado no grupo.
Neste texto, não vamos, assim, trabalhar com a questão central do projeto em curso, mas sim buscar indicar como um grupo de pesquisa se prepara para trabalhar com recursos ima- géticos e sonoros – filmes - e outros artefatos culturais que funcionarão como elementos de mediação no projeto para chegarmos às ‘con- versas’ a serem desenvolvidas em cineclubes
4 Fazer vídeos é uma das atividades do projeto. Para nos formarmos para atuar com os ‘praticantespen- santes’ das escolas com os quais vamos trabalhar o grupo faz vídeos. Este foi o primeiro que realizamos. O segundo está sendo finalizado e tem por título “Ca- minhar, caminhar, esperar, esperar...”, que é explicado em nossas conclusões. O argumento do terceiro já está sendo criado no grupo.
criados em alguns municípios do estado do rio de Janeiro, em seguida. Chegaremos ao final do texto a algumas conclusões neste “processo en- tre nós” - aquele que fazemos com os membros do grupo de pesquisa - e a um segundo vídeo produzido pelo grupo que indica alguns dos achados que tivemos nestes processos.
Necessitamos indicar, inicialmente, alguns modos de pensar que estão na base desses processos de pesquisa.
movimentos da pesquisa
são dois os movimentos da pesquisa que rea- lizamos para entender os modos como traba- lhamos com os movimentos migratórios nela, nos tantos ‘dentrofora’ das escolas, nas inú- meras redes educativas por que circulamos.
Há algum tempo, temos trabalhado, nas pesquisas que realizamos, com as imagens e os sons (que incluem músicas e narrativas) en- quanto “personagens conceituais” tal como os pensa e com eles trabalhou Deleuze (DeLeuZe e GuATTArI, 1992). Para este autor, os “persona- gens conceituais” são intercessores do pensa- mento, permitindo que os questionamentos que nos fazem – ou que fazemos com que nos façam – levem à criação e ao avanço do pensamen- to em torno da questão com que trabalhamos. Quando ‘conversa’ com/estuda um determinado autor, seja em literatura, como fez com Proust (DeLeuZe, 2003)5, em artes plásticas, como fez com bacon (DeLeuZe, 2007b), em filosofia como fez com Leibniz (DeLeuZe, 1991), em história/fi- losofia como fez com Foucault (DeLeuZe, 2005), com o teatro (DeLeuZe, 2010) ou em cinema com tantos de seus autores (DeLeuZe, 2007a; 1985), Deleuze cria possibilidades de questionamento ao seu próprio pensamento permitindo com es- sas ‘conversas’ pensar filosofia, criando aquilo que vai chamar de ‘conceitos’.
5 Mais tarde, Deleuze desenvolve também com Guattari esse mesmo processo, em trabalho conjunto, ao estu- dar a obra de Kafka (DELEUzE e GUATTARI, 2014).
Necessitamos indicar, inicialmente, alguns modos de pensar que estão na base desses processos de pesquisa.
movimentos da pesquisa
são dois os movimentos da pesquisa que rea- lizamos para entender os modos como traba- lhamos com os movimentos migratórios nela, nos tantos ‘dentrofora’ das escolas, nas inú- meras redes educativas por que circulamos.
Há algum tempo, temos trabalhado, nas pesquisas que realizamos, com as imagens e os sons (que incluem músicas e narrativas) en- quanto “personagens conceituais” tal como os pensa e com eles trabalhou Deleuze (DeLeuZe e GuATTArI, 1992). Para este autor, os “persona- gens conceituais” são intercessores do pensa- mento, permitindo que os questionamentos que nos fazem – ou que fazemos com que nos façam – levem à criação e ao avanço do pensamen- to em torno da questão com que trabalhamos. Quando ‘conversa’ com/estuda um determinado autor, seja em literatura, como fez com Proust (DeLeuZe, 2003)5, em artes plásticas, como fez com bacon (DeLeuZe, 2007b), em filosofia como fez com Leibniz (DeLeuZe, 1991), em história/fi- losofia como fez com Foucault (DeLeuZe, 2005), com o teatro (DeLeuZe, 2010) ou em cinema com tantos de seus autores (DeLeuZe, 2007a; 1985), Deleuze cria possibilidades de questionamento ao seu próprio pensamento permitindo com es- sas ‘conversas’ pensar filosofia, criando aquilo que vai chamar de ‘conceitos’.
5 Mais tarde, Deleuze desenvolve também com Guattari esse mesmo processo, em trabalho conjunto, ao estu- dar a obra de Kafka (DELEUzE e GUATTARI, 2014).
224
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018
Nilda Alves; Virgínia Louzada; Rebeca Brandão Rosa; Nilton Almeida; Izadora Agueda Ovelha; Noale Toja
Neste mesmo sentido, fazemos com que as imagens e os sons com que trabalhamos, nos interroguem, proponham questões que preci- samos resolver em nossa pesquisa.
Na pesquisa que atualmente desenvolve- mos, na preparação do grupo de pesquisa para atuar nos cineclubes de docentes e discentes que iremos criar nos próximos anos, tratamos as imagens e sons de filmes que trabalham com migrações humanas – por seus tantos motivos: guerras, acontecimentos ecológicos, dissolu- ção de ‘espaçostempos’ de trabalho, pelas cri- ses econômicas – como nossos “personagens conceituais”. esses filmes, após a sua projeção, permitem o desenrolar de ‘conversas’ com os participantes da pesquisa – inicialmente os membros do grupo de pesquisa e, em seguida, docentes e discentes de escola básica - acerca do que contam, mostram, fazem ouvir6. essas ‘conversas’ são ‘presenciais’, com registro em vídeo, imediatamente após a projeção do fil- me, e online, uma semana depois, via uma pá- gina criada no Facebook.
Vale lembrar que, trabalhando, há muito, com imagens e sons, éramos interrogados por colegas de outros grupos de pesquisa, com insistência, acerca do que estas e estes eram nas pesquisas que realizávamos: “representa- vam” alguma coisa? eram “ilustrações” ao que dizíamos nos textos? serviam para quê? Fo- mos encontrar em Deleuze e Guattari (1992) a compreensão de que eram “personagens con- ceituais”, ou seja, aqueles que ‘fazemos falar e perguntar por nós’, como Deleuze indica que o personagem “o Idiota” faz para de Cusa, ou melhor, como de Cusa fez com seu persona- gem “o Idiota”.
6 Alguns desses filmes, já visualizados/ouvidos no pro- jeto, foram: “Em busca do ouro” (1925), direção de Charlie Chaplin (USA); “Vinhas da Ira” (1940), direção de John Ford (USA); “Casablanca” (1942), direção de Michael Curtiz (USA); “Pão e rosas” (2000), direção de Ken Loach (coprodução: França, Reino Unido, Espa- nha, Alemanha e Suíça); “Cinema, aspirinas e urubus” (2005), direção de Marcelo Gomes (brasil)
Na pesquisa que atualmente desenvolve- mos, na preparação do grupo de pesquisa para atuar nos cineclubes de docentes e discentes que iremos criar nos próximos anos, tratamos as imagens e sons de filmes que trabalham com migrações humanas – por seus tantos motivos: guerras, acontecimentos ecológicos, dissolu- ção de ‘espaçostempos’ de trabalho, pelas cri- ses econômicas – como nossos “personagens conceituais”. esses filmes, após a sua projeção, permitem o desenrolar de ‘conversas’ com os participantes da pesquisa – inicialmente os membros do grupo de pesquisa e, em seguida, docentes e discentes de escola básica - acerca do que contam, mostram, fazem ouvir6. essas ‘conversas’ são ‘presenciais’, com registro em vídeo, imediatamente após a projeção do fil- me, e online, uma semana depois, via uma pá- gina criada no Facebook.
Vale lembrar que, trabalhando, há muito, com imagens e sons, éramos interrogados por colegas de outros grupos de pesquisa, com insistência, acerca do que estas e estes eram nas pesquisas que realizávamos: “representa- vam” alguma coisa? eram “ilustrações” ao que dizíamos nos textos? serviam para quê? Fo- mos encontrar em Deleuze e Guattari (1992) a compreensão de que eram “personagens con- ceituais”, ou seja, aqueles que ‘fazemos falar e perguntar por nós’, como Deleuze indica que o personagem “o Idiota” faz para de Cusa, ou melhor, como de Cusa fez com seu persona- gem “o Idiota”.
6 Alguns desses filmes, já visualizados/ouvidos no pro- jeto, foram: “Em busca do ouro” (1925), direção de Charlie Chaplin (USA); “Vinhas da Ira” (1940), direção de John Ford (USA); “Casablanca” (1942), direção de Michael Curtiz (USA); “Pão e rosas” (2000), direção de Ken Loach (coprodução: França, Reino Unido, Espa- nha, Alemanha e Suíça); “Cinema, aspirinas e urubus” (2005), direção de Marcelo Gomes (brasil)
Para estes autores, os “personagens con- ceituais” aparecem por necessidade de par- tilhar seu pensamento e fazê-lo avançar, ou seja, criar. Assim, “não são mais determinações empíricas, psicológicas e sociais, ainda me- nos abstrações, mas intercessores, cristais ou germes de pensamento” (DeLeuZe; GuATTArI, 1992, p. 85). Para esses autores:
o essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. sem eles não há obra. Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cien- tistas; para um cientista, filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas, até animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios in- tercessores. É uma série. se não formamos uma série, mesmo que completamente imaginária, estamos perdidos. eu preciso de meus interces- sores para me exprimir, e eles jamais se expri- miriam sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando isso não se vê. e mais ainda quando é visível: Félix Guattari e eu somos in- tercessores um do outro. (DeLeuZe; GuATTArI, 1992, p. 156)
Passamos a entender, então, os artefatos culturais com que trabalhamos, como o ‘ou- tro’ com que ‘conversamos’ permanentemen- te, que nos vai colocando perguntas, que nos obriga a ‘fazerpensar’ para permitir ‘caminhar’ o pensamento e com os quais criamos ‘conhe- cimentossignificações’ com tudo o que vamos acumulando, organizando e articulando ao desenvolver as pesquisas com os cotidianos. É assim, que temos como um caminho importan- te para nós, nas pesquisas, registrar em vídeos as “conversas”7 que vamos desenvolvendo com os ‘praticantespensantes’8 (oLIVeIrA, 2012) das escolas sobre imagens e sons de filmes, para
7 Para a discussão desta decisão teórico-metodológi- ca, enviamos a Elias (1994), Coutinho (1997), Larrosa (1999) e Maturana (2001).
8 Oliveira (2012) usa estes termos, coerente com o pen- samento de Certeau (2012) que os chama “pratican- tes”, mas os vê como criadores permanentes de ‘co- nhecimentosignificações’. Desse modo, a autora vai além dele indicando o que ele diz acontecer: nomea -os, então de ‘praticantespensantes’
o essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. sem eles não há obra. Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cien- tistas; para um cientista, filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas, até animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios in- tercessores. É uma série. se não formamos uma série, mesmo que completamente imaginária, estamos perdidos. eu preciso de meus interces- sores para me exprimir, e eles jamais se expri- miriam sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando isso não se vê. e mais ainda quando é visível: Félix Guattari e eu somos in- tercessores um do outro. (DeLeuZe; GuATTArI, 1992, p. 156)
Passamos a entender, então, os artefatos culturais com que trabalhamos, como o ‘ou- tro’ com que ‘conversamos’ permanentemen- te, que nos vai colocando perguntas, que nos obriga a ‘fazerpensar’ para permitir ‘caminhar’ o pensamento e com os quais criamos ‘conhe- cimentossignificações’ com tudo o que vamos acumulando, organizando e articulando ao desenvolver as pesquisas com os cotidianos. É assim, que temos como um caminho importan- te para nós, nas pesquisas, registrar em vídeos as “conversas”7 que vamos desenvolvendo com os ‘praticantespensantes’8 (oLIVeIrA, 2012) das escolas sobre imagens e sons de filmes, para
7 Para a discussão desta decisão teórico-metodológi- ca, enviamos a Elias (1994), Coutinho (1997), Larrosa (1999) e Maturana (2001).
8 Oliveira (2012) usa estes termos, coerente com o pen- samento de Certeau (2012) que os chama “pratican- tes”, mas os vê como criadores permanentes de ‘co- nhecimentosignificações’. Desse modo, a autora vai além dele indicando o que ele diz acontecer: nomea -os, então de ‘praticantespensantes’
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018 225
226
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018
Imagens e sons de movimentos migratórios no cinema e nas escolas
que, podendo revê-las, criemos ‘espaçostem- pos’, no grupo de pesquisa, para que elas nos questionem, permitindo a produção de novos ‘conhecimentossignificações’ acerca das redes educativas e dos cotidianos escolares, nas tan- tas narrativas de escolas que surgem durante os encontros que desenvolvemos. essas narra- tivas trazem, sempre, memórias virtuais (rein- ventadas) já que sempre estão em movimento.
Desse modo, imagens, sons e narrativas têm funcionado como ‘personagens concei- tuais’ para nós, permitindo a formulação de pensamentos relacionados àquilo que vai apa- recendo nas ‘conversas’ acerca tanto do reali- zado ou visto realizar, em algum momento, nos processos curriculares, nas escolas, como o que aparece como possibilidade de realização futura.
É preciso dizer que nessas ‘conversas’ inte- ressa-nos conhecer o que ocorre nas escolas, pela versão que lhes dão os tantos ‘pratican- tespensantes’ que por elas circulam e, mais ainda, interessa-nos conhecer as negociações de diversos tipos que são necessárias e estão presentes nelas, seja em disputas por hegemo- nia, em lutas políticas diversas – locais ou glo- bais - em contradições ideológicas, em crenças de múltiplas origens, produzindo memórias de inúmeros tipos e permitindo ações curricula- res diversificadas; produzir o levantamento de possibilidades curriculares que aparecem sendo vividas cotidianamente; buscar perce- ber as articulações entre ‘conhecimentossigni- ficações’, conteúdos e processos curriculares realizados ou possíveis de imaginar e realizar, posteriormente, tanto quanto os processos que poderiam ter acontecido antes se... em re- sumo: os processos diferenciados e complexos e, sempre, caóticos, que nas escolas aparecem como realidade ou como virtualidade, em pos- sibilidades múltiplas e complexas, a partir de necessidades sentidas e possibilidades ‘usa- das’ (CerTeAu, 2012). Assim, não nos interessa
Desse modo, imagens, sons e narrativas têm funcionado como ‘personagens concei- tuais’ para nós, permitindo a formulação de pensamentos relacionados àquilo que vai apa- recendo nas ‘conversas’ acerca tanto do reali- zado ou visto realizar, em algum momento, nos processos curriculares, nas escolas, como o que aparece como possibilidade de realização futura.
É preciso dizer que nessas ‘conversas’ inte- ressa-nos conhecer o que ocorre nas escolas, pela versão que lhes dão os tantos ‘pratican- tespensantes’ que por elas circulam e, mais ainda, interessa-nos conhecer as negociações de diversos tipos que são necessárias e estão presentes nelas, seja em disputas por hegemo- nia, em lutas políticas diversas – locais ou glo- bais - em contradições ideológicas, em crenças de múltiplas origens, produzindo memórias de inúmeros tipos e permitindo ações curricula- res diversificadas; produzir o levantamento de possibilidades curriculares que aparecem sendo vividas cotidianamente; buscar perce- ber as articulações entre ‘conhecimentossigni- ficações’, conteúdos e processos curriculares realizados ou possíveis de imaginar e realizar, posteriormente, tanto quanto os processos que poderiam ter acontecido antes se... em re- sumo: os processos diferenciados e complexos e, sempre, caóticos, que nas escolas aparecem como realidade ou como virtualidade, em pos- sibilidades múltiplas e complexas, a partir de necessidades sentidas e possibilidades ‘usa- das’ (CerTeAu, 2012). Assim, não nos interessa
“o que ocorre nas escolas” ou, em termos das ciências “duras”, a “verdade sobre as escolas”; queremos conhecer aquilo que seus ‘pratican- tespensantes’ pensam que aconteceu ou que acontece ou que acontecerá nas escolas.
o outro movimento que realizamos e que devemos indicar é o de que, ao estudarmos os tantos ‘dentrofora’ das escolas, nos processos curriculares que nelas ocorrem, tentamos de- senvolver a ideia de que a formação humana e os processos educativos se dão em múltiplas redes educativas que os seres humanos for- mam e nas quais se formam criando mundos culturais diversos (AuGÉ, 2004). estas redes são assim nomeadas em nossas pesquisas: a das ‘práticasteorias’ da formação acadêmica; a das ‘práticasteorias’ pedagógicas cotidianas; a das ‘práticasteorias’ das políticas de governo; a das ‘práticasteorias’ coletivas dos movimen- tos sociais; a das ‘práticasteorias’ da criação e da fruição das artes; a das ‘práticasteorias’ das pesquisas em educação; a das ‘práticas- teorias’ de produção e ‘usos’ de mídias; a das ‘práticasteorias’ de vivências nas cidades, no campo e à beira das estradas. É nas relações dos seres humanos dentro delas e entre elas que percebemos a formação como complexa e diferenciada.
Consideramos todas, como se nota, de ‘práticasteorias’ pois percebemos que em to- das elas são desenvolvidas ações e criados pensamentos, bem como produzidas tecno- logias diversificadas no ‘uso’ (CerTeAu, 2012) de múltiplos artefatos, em incessantes movi- mentos. Também, na relação entre elas, se dão negociações diversas, com produção de novos elementos, além de frequentes lutas por he- gemonia de ‘fazeressaberes’. essas redes pre- cisam ser entendidas, também, como ‘mundos culturais’ nos quais os seres humanos entram em relação com artefatos culturais múltiplos que expressam possibilidades de criação de imagens, sons e narrativas.
o outro movimento que realizamos e que devemos indicar é o de que, ao estudarmos os tantos ‘dentrofora’ das escolas, nos processos curriculares que nelas ocorrem, tentamos de- senvolver a ideia de que a formação humana e os processos educativos se dão em múltiplas redes educativas que os seres humanos for- mam e nas quais se formam criando mundos culturais diversos (AuGÉ, 2004). estas redes são assim nomeadas em nossas pesquisas: a das ‘práticasteorias’ da formação acadêmica; a das ‘práticasteorias’ pedagógicas cotidianas; a das ‘práticasteorias’ das políticas de governo; a das ‘práticasteorias’ coletivas dos movimen- tos sociais; a das ‘práticasteorias’ da criação e da fruição das artes; a das ‘práticasteorias’ das pesquisas em educação; a das ‘práticas- teorias’ de produção e ‘usos’ de mídias; a das ‘práticasteorias’ de vivências nas cidades, no campo e à beira das estradas. É nas relações dos seres humanos dentro delas e entre elas que percebemos a formação como complexa e diferenciada.
Consideramos todas, como se nota, de ‘práticasteorias’ pois percebemos que em to- das elas são desenvolvidas ações e criados pensamentos, bem como produzidas tecno- logias diversificadas no ‘uso’ (CerTeAu, 2012) de múltiplos artefatos, em incessantes movi- mentos. Também, na relação entre elas, se dão negociações diversas, com produção de novos elementos, além de frequentes lutas por he- gemonia de ‘fazeressaberes’. essas redes pre- cisam ser entendidas, também, como ‘mundos culturais’ nos quais os seres humanos entram em relação com artefatos culturais múltiplos que expressam possibilidades de criação de imagens, sons e narrativas.
Nilda Alves; Virgínia Louzada; Rebeca Brandão Rosa; Nilton Almeida; Izadora Agueda Ovelha; Noale Toja
essa ideia nos tem permitido compreender os múltiplos e complexos fluxos culturais pre- sentes nestas redes e que vão com os seres hu- manos nos movimentos que fazem dentro de- las e nas relações que estabelecem entre elas, levando, como mediadores, os inúmeros arte- fatos que nelas estão, permitindo trocas, crian- do beleza e diferentes ‘conhecimentossignifi- cações’ necessários às suas vidas, instalando medos e crenças nos processos em curso nelas, inúmeras vezes – estimulados, particularmen- te, por interesses de ‘praticantespensantes’ de algumas delas, como temos visto acontecer, de forma crescente, em ações de diversas mídias (FerrAÇo; soAres; ALVes, 2016).
em todos os ‘espaçostempos’, a participa- ção nestas redes faz surgir novos ‘conhecimen- tossignificações’, quer seja algum que permi- ta resolver um problema ou algum que surja criando uma nova tecnologia de uso (CerTeAu, 2012) ou, ainda, buscando explicar ou justificar um acontecimento de que se participou.
Assim, nos movimentos que realizam nas e entre as redes educativas, os seres humanos vão criando ‘conhecimentossignificações’ acer- ca dos artefatos com os quais interagem nos acontecimentos vividos e com os outros seres humanos com os quais estão em relação. essas relações, como aquilo que criam, são sempre efêmeras, mas deixam marcas naqueles que as vivem. Falando, por exemplo, acerca de atos de leitura, Certeau (2012, p. 49) os descreve assim:
[...] de fato, a atividade leitora apresenta, ao contrário, todos os traços de uma produção silenciosa: flutuações através da página, meta- morfose do texto pelo olho que viaja, improvi- sação e expectação de significados induzidos de certas palavras, intersecções de espaços escritos, dança efêmera. mas incapaz de fazer um estoque (salvo se escreve ou registra), o leitor não se garante contra o gasto do tempo (ele esquece lendo e esquece o que já leu) a não ser pela compra do objeto (livro, imagem) que é apenas o ersatz (resíduo ou promessa) de
em todos os ‘espaçostempos’, a participa- ção nestas redes faz surgir novos ‘conhecimen- tossignificações’, quer seja algum que permi- ta resolver um problema ou algum que surja criando uma nova tecnologia de uso (CerTeAu, 2012) ou, ainda, buscando explicar ou justificar um acontecimento de que se participou.
Assim, nos movimentos que realizam nas e entre as redes educativas, os seres humanos vão criando ‘conhecimentossignificações’ acer- ca dos artefatos com os quais interagem nos acontecimentos vividos e com os outros seres humanos com os quais estão em relação. essas relações, como aquilo que criam, são sempre efêmeras, mas deixam marcas naqueles que as vivem. Falando, por exemplo, acerca de atos de leitura, Certeau (2012, p. 49) os descreve assim:
[...] de fato, a atividade leitora apresenta, ao contrário, todos os traços de uma produção silenciosa: flutuações através da página, meta- morfose do texto pelo olho que viaja, improvi- sação e expectação de significados induzidos de certas palavras, intersecções de espaços escritos, dança efêmera. mas incapaz de fazer um estoque (salvo se escreve ou registra), o leitor não se garante contra o gasto do tempo (ele esquece lendo e esquece o que já leu) a não ser pela compra do objeto (livro, imagem) que é apenas o ersatz (resíduo ou promessa) de
instantes “perdidos” na leitura. ele insinua as astúcias do prazer e de uma reapropriação no texto do outro: aí vai caçar, ali é transportado, ali se faz plural como os ruídos do corpo. As- túcia, metáfora, combinatória, esta produção é igualmente uma “invenção” da memória. Faz das palavras as soluções de histórias mudas. o legível se transforma em memorável: barhtes lê Proust no texto de stendhal9; o espectador lê a paisagem de sua infância na reportagem de atualidades. A fina película do escrito se torna um remover de camadas, um jogo de espaços. um mundo diferente (o do leitor) se introduz no lugar do autor.
Com alguns elementos que acentuam as possibilidades – imagens, sons, palavras, ges- tos, possibilidades de trocas entre os que, juntos, veem filmes, etc. - o cinema funciona do mesmo modo. É produção silenciosa, que permite interpretações diversas e múltiplas, permite instantes perdidos e criação de me- mórias, já que os contatos dos espectadores são diferentes daqueles do diretor do filme ou de cada um daqueles que participou da feitura do mesmo: atores/atrizes, técnicos diversos, múltiplos diretores etc.
A expressão disso nas escolas vem sendo tratada pelos diversos grupos que, no brasil, pesquisam com os cotidianos e os currículos neles ‘praticadospensados’. Carvalho (2009) indicou, em uma síntese desse movimento, “o cotidiano escolar como comunidade de afe- tos” e “o currículo como comunidades tecidas em redes de conversações e ações complexas”. Desenvolvendo um estudo que avança da “co- munidade como princípio da modernidade”, passando pelas “comunidades singulares e cooperativas no contexto da sociedade de controle”, essa autora chega à compreensão das “comunidades híbridas e heterológicas na perspectiva da hermenêutica diatópica em re- des de subjetividades compartilhadas nos co- tidianos escolares”.
9 Nota de Certeau (2012, p. 321): Roland barthes. Le plai- sir du texte. Paris, Seuil, 1973, p 58.
Com alguns elementos que acentuam as possibilidades – imagens, sons, palavras, ges- tos, possibilidades de trocas entre os que, juntos, veem filmes, etc. - o cinema funciona do mesmo modo. É produção silenciosa, que permite interpretações diversas e múltiplas, permite instantes perdidos e criação de me- mórias, já que os contatos dos espectadores são diferentes daqueles do diretor do filme ou de cada um daqueles que participou da feitura do mesmo: atores/atrizes, técnicos diversos, múltiplos diretores etc.
A expressão disso nas escolas vem sendo tratada pelos diversos grupos que, no brasil, pesquisam com os cotidianos e os currículos neles ‘praticadospensados’. Carvalho (2009) indicou, em uma síntese desse movimento, “o cotidiano escolar como comunidade de afe- tos” e “o currículo como comunidades tecidas em redes de conversações e ações complexas”. Desenvolvendo um estudo que avança da “co- munidade como princípio da modernidade”, passando pelas “comunidades singulares e cooperativas no contexto da sociedade de controle”, essa autora chega à compreensão das “comunidades híbridas e heterológicas na perspectiva da hermenêutica diatópica em re- des de subjetividades compartilhadas nos co- tidianos escolares”.
9 Nota de Certeau (2012, p. 321): Roland barthes. Le plai- sir du texte. Paris, Seuil, 1973, p 58.
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018 227
Imagens e sons de movimentos migratórios no cinema e nas escolas
Para gestar esse percurso, a autora entende que trocas e compartilhamento, em ‘conver- sas’, articulam as possibilidades curriculares na contemporaneidade. Para que esses movi- mentos possam se dar e serem ampliados, en- tende que, em complexas e múltiplas relações, os infinitos elementos da cultura e da educa- ção ‘entramsaem’ das escolas encarnados em seus ‘praticantespensantes’. estendemos, as- sim, este pensamento como indicando o que se dá em todas as redes educativas que os ‘praticantespensantes’ formam e nas quais se formam.
Nos ‘espaçostempos’ destas redes pode- mos perceber que se conversa muito. Na visão hegemônica, essas conversas são entendidas, na maior parte das vezes, como ‘perda de tem- po’. mas, nas pesquisas com os cotidianos, es- tendemos que este é o verdadeiro ‘lócus’ de pesquisa, pois nelas surgem imagens, sons e narrativas que vão se transformar em nossos ‘personagens conceituais’, como já dissemos. Nas escolas, é o modo principal de como os ‘conhecimentossignificações’ fluem e ganham potência.
Desse modo, nas pesquisas com os cotidia- nos, assumimos que escrever/falar da impor- tância das ‘conversas’ tem a ver com a com- preensão que Certeau (2012) formula acerca dos trabalhos realizados por Détienne10 em cujos processos de pesquisa ‘dizer’ e ‘repetir de outro modo’ são as maneiras de indicar o conteúdo e as metodologias de pesquisar. Cer- teau, acerca deste autor, diz que o mesmo
[...] não instala as histórias gregas diante de si para tratá-las em nome de outra coisa que não elas mesmas. recusa o corte que delas faria objetos de saber, mas também objetos a saber, cavernas onde ‘mistérios’ postos em re- serva aguardariam da pesquisa científica o seu significado. ele não supõe, por trás de todas essas histórias, segredos cujo progressivo des-
10 historiador francês que trabalha com a civilização grega.
Nos ‘espaçostempos’ destas redes pode- mos perceber que se conversa muito. Na visão hegemônica, essas conversas são entendidas, na maior parte das vezes, como ‘perda de tem- po’. mas, nas pesquisas com os cotidianos, es- tendemos que este é o verdadeiro ‘lócus’ de pesquisa, pois nelas surgem imagens, sons e narrativas que vão se transformar em nossos ‘personagens conceituais’, como já dissemos. Nas escolas, é o modo principal de como os ‘conhecimentossignificações’ fluem e ganham potência.
Desse modo, nas pesquisas com os cotidia- nos, assumimos que escrever/falar da impor- tância das ‘conversas’ tem a ver com a com- preensão que Certeau (2012) formula acerca dos trabalhos realizados por Détienne10 em cujos processos de pesquisa ‘dizer’ e ‘repetir de outro modo’ são as maneiras de indicar o conteúdo e as metodologias de pesquisar. Cer- teau, acerca deste autor, diz que o mesmo
[...] não instala as histórias gregas diante de si para tratá-las em nome de outra coisa que não elas mesmas. recusa o corte que delas faria objetos de saber, mas também objetos a saber, cavernas onde ‘mistérios’ postos em re- serva aguardariam da pesquisa científica o seu significado. ele não supõe, por trás de todas essas histórias, segredos cujo progressivo des-
10 historiador francês que trabalha com a civilização grega.
velamento lhe daria, em contrapartida, o seu próprio lugar, o da interpretação. esses contos, histórias, poemas e tratados para ele já são práticas. Dizem exatamente o que fazem. são gestos que significam. [...] Formam uma rede de operações da qual mil personagens esboçam as formalidades e os bons lances. Neste espaço de práticas textuais, como num jogo de xadrez cujas figuras, regras e partidas teriam sido mul- tiplicadas na escala de uma literatura, Detienne conhece como artista mil lances já executados (a memória dos lances antigos é essencial a toda partida de xadrez), mas ele joga com esses lances; deles faz outros com esse repertório: ‘conta histórias’ por sua vez. re-cita esses ges- tos táticos. Para dizer o que dizem, não há ou- tro discurso senão eles. Alguém pergunta: mas o que “querem” dizer? então se responde: vou contá-los de novo. se alguém lhe perguntasse qual era o sentido de uma sonata, beethoven, segundo se conta, a tocava de novo. o mesmo acontece com a recitação da tradição oral, as- sim como a analisa J. Goody: uma maneira de repetir séries e combinações de operações formais, com uma arte de “fazê-las concordar” com as circunstâncias e com o público11. (Cer- TeAu, 2012, p.155)
Ao estudar, no presente projeto, os modos como a questão das migrações sociais entram nas escolas, entendemos ser necessário com- preender, por um lado, estas complexas redes de relações, nos diversos ‘espaçostempos’ em que se dão. Por outro lado, deixar que a pos- sibilidade de fruirmos e pensarmos juntos os filmes que tratam desta questão estabeleçam ‘conversas’ que se estendem, sem controle maior, permitindo trazer os ‘espaçostempos’ das escolas, com seus múltiplos ‘pratican- tespensantes’ para dentro do que está sendo narrado, contando processos curriculares já vividos e outros que ainda podem ser vividos nas diversas escolas presentes nas histórias daqueles que participam de cada ‘conversa’.
11 Nota de Certeau: Cf. Goody, Jack, Mémoires et appren- tissage dans les sociétés avec ou sans écriture: la transmission du Bagre, em L’homme, t. 17, 1977, p. 29- 52.
Ao estudar, no presente projeto, os modos como a questão das migrações sociais entram nas escolas, entendemos ser necessário com- preender, por um lado, estas complexas redes de relações, nos diversos ‘espaçostempos’ em que se dão. Por outro lado, deixar que a pos- sibilidade de fruirmos e pensarmos juntos os filmes que tratam desta questão estabeleçam ‘conversas’ que se estendem, sem controle maior, permitindo trazer os ‘espaçostempos’ das escolas, com seus múltiplos ‘pratican- tespensantes’ para dentro do que está sendo narrado, contando processos curriculares já vividos e outros que ainda podem ser vividos nas diversas escolas presentes nas histórias daqueles que participam de cada ‘conversa’.
11 Nota de Certeau: Cf. Goody, Jack, Mémoires et appren- tissage dans les sociétés avec ou sans écriture: la transmission du Bagre, em L’homme, t. 17, 1977, p. 29- 52.
228
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018
Nilda Alves; Virgínia Louzada; Rebeca Brandão Rosa; Nilton Almeida; Izadora Agueda Ovelha; Noale Toja
uma escolha necessária – refugiados ou imigrantes ou...
Logo no início do projeto, uma escolha se co- locou ao grupo: ‘conversaríamos’ acerca de re- fugiados ou de imigrantes?
o organismo da oNu para refugiados, o ACNur (Alto Comissariado das Nações unidas para os refugiados) possuindo em sua própria designação a palavra ‘refugiados’ tem uma política, no presente, de esclarecimento dos dois termos – refugiados e imigrantes (ACNur, 2011)12. uma publicação de 2015, do Alto Comis- sariado, assinada por Adrian edwards, busca esclarecer esta questão dizendo entre outras coisas que...
Com aproximadamente 60 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo e as travessias em embarcações precárias pelo mediterrâneo nas manchetes dos jornais, está cada vez mais comum ver os termos ‘refugiado’ e ‘migran- te’ confundidos, tanto nos discursos da mídia, quanto do público em geral. mas existe alguma diferença entre eles? e essa diferença é impor- tante?
sim, existe uma diferença e sim, é importante. os dois termos têm significados diferentes e confundir os mesmos acarreta problemas para ambas as populações.
os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. Com fre- quência, sua situação é tão perigosa e intolerá- vel que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos países mais próxi- mos, e então se tornarem um ‘refugiado’ reco- nhecido internacionalmente, com o acesso à assistência dos estados, do ACNur e de outras organizações. são reconhecidos como tal, pre- cisamente porque é muito perigoso para eles voltar ao seu país e necessitam de um asilo em algum outro lugar. Para estas pessoas, a nega- ção de um asilo pode ter consequências vitais. (ACNur, 2015, p. 1)
12 É preciso dizer que em torno de outro termo giram também as preocupações do ACNUR: ‘apátridas’ (AC- NUR, 2014 a).
Logo no início do projeto, uma escolha se co- locou ao grupo: ‘conversaríamos’ acerca de re- fugiados ou de imigrantes?
o organismo da oNu para refugiados, o ACNur (Alto Comissariado das Nações unidas para os refugiados) possuindo em sua própria designação a palavra ‘refugiados’ tem uma política, no presente, de esclarecimento dos dois termos – refugiados e imigrantes (ACNur, 2011)12. uma publicação de 2015, do Alto Comis- sariado, assinada por Adrian edwards, busca esclarecer esta questão dizendo entre outras coisas que...
Com aproximadamente 60 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo e as travessias em embarcações precárias pelo mediterrâneo nas manchetes dos jornais, está cada vez mais comum ver os termos ‘refugiado’ e ‘migran- te’ confundidos, tanto nos discursos da mídia, quanto do público em geral. mas existe alguma diferença entre eles? e essa diferença é impor- tante?
sim, existe uma diferença e sim, é importante. os dois termos têm significados diferentes e confundir os mesmos acarreta problemas para ambas as populações.
os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. Com fre- quência, sua situação é tão perigosa e intolerá- vel que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos países mais próxi- mos, e então se tornarem um ‘refugiado’ reco- nhecido internacionalmente, com o acesso à assistência dos estados, do ACNur e de outras organizações. são reconhecidos como tal, pre- cisamente porque é muito perigoso para eles voltar ao seu país e necessitam de um asilo em algum outro lugar. Para estas pessoas, a nega- ção de um asilo pode ter consequências vitais. (ACNur, 2015, p. 1)
12 É preciso dizer que em torno de outro termo giram também as preocupações do ACNUR: ‘apátridas’ (AC- NUR, 2014 a).
Partindo assim desta posição bastante ní- tida, ‘conversamos’ no grupo, no desenvolvi- mento do projeto, se trataríamos somente dos refugiados ou de imigrantes, questão que não estava incluída na formulação do projeto ini- cial. Decidimos que trabalharíamos com os dois por duas razões: a primeira se relaciona a que na história familiar de muitos de nós brasileiros há a figura do imigrante – português, árabe, espa- nhol, japonês, alemão, polonês, etc. – o que nos permite uma referência sensível e um acordo de princípios acerca de sermos sempre, em al- gum pedaço de nós, de outros ‘espaçostempos’ que formaram culturas no brasil. observamos que alguns livros feitos para crianças e jovens adotaram esta posição para discutir esta ques- tão (FArIA, 2009; CArrAsCoZA, 2009; KosToLIAs, 2010; CAmPos, 2010; IACoCCA, 2010; FILHo, 2010; WANG, 2012; WILLe, 2012; ZAKZuK, 2012). o único perigo desta posição – e precisamos estar aten- tos a isto – é que entende todos como migran- tes, do alemão ao africano, o que de certa forma deixa de discutir questões centrais à sociedade e à cultura do país, como a história da escravi- dão e os processos de racismo, por exemplo.
Desse modo, a segunda razão a esta ten- dência que trata de todos os movimentos po- pulacionais como migrações, se refere, inclusi- ve a vinda de povos africanos tratados na ge- neralidade. Isto nos fez perguntar: como tratar as diásporas? em nosso caso brasileiro: como tratar a vinda dos negros de tantos ‘espaços- tempos’ diferentes do continente africano, durante o período colonial, e criando, no pre- sente, um racismo que, de camuflado passou a visível, em tão pouco tempo e que tem se ex- pressado com posições muito parecidas com a que são identificadas com aquelas dadas aos refugiados, no presente, em nosso país, por grupos da população.
Desse modo, discutimos a necessidade de irmos além da posição exposta na citação aci- ma do ACNur já que grandes movimentações
Desse modo, a segunda razão a esta ten- dência que trata de todos os movimentos po- pulacionais como migrações, se refere, inclusi- ve a vinda de povos africanos tratados na ge- neralidade. Isto nos fez perguntar: como tratar as diásporas? em nosso caso brasileiro: como tratar a vinda dos negros de tantos ‘espaços- tempos’ diferentes do continente africano, durante o período colonial, e criando, no pre- sente, um racismo que, de camuflado passou a visível, em tão pouco tempo e que tem se ex- pressado com posições muito parecidas com a que são identificadas com aquelas dadas aos refugiados, no presente, em nosso país, por grupos da população.
Desse modo, discutimos a necessidade de irmos além da posição exposta na citação aci- ma do ACNur já que grandes movimentações
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018 229
Imagens e sons de movimentos migratórios no cinema e nas escolas
são feitas também por catástrofes naturais – como a vinda de haitianos ao brasil, recen- temente – e por desorganização violenta da economia mundial – como a vinda de tantos latino-americanos e outros povos para nosso país em processos diversificados.
Além disso, entendíamos que era preciso tratar fortemente de migrações internas no brasil, pois esses movimentos se encontram também nas famílias a que pertencemos e na política do país. Afinal, um das ‘acusações’ fei- tas ao ex-presidente Lula, por exemplo, é de que era nordestino e sem escolarização... No caso da reeleição da presidenta Dilma rous- seff é que se deu pelo Nordeste13 como uma situação que ‘desmerecia’ sua eleição.
No entanto, a questão que incomoda, di- gamos assim, e acerca da qual é preciso com- preender como ingressa nos currículos – além de ser aquela que ocupa ‘espaçostempos’ nas mídias, no momento presente – é a de ‘refugia- dos’ estrangeiros. É mesmo? Por quê?
estas questões continuam a ser discutidas no grupo, mas a estamos trabalhando a partir desses tantos termos – e ‘espaçostempos’ di- ferentes – que giram em torno das mobilida- des humanas: migrações; refúgios; diásporas... sem descartar nenhum deles já que nos são necessários para compreender o que quere- mos trabalhar nas ‘conversas’ com os ‘prati- cantespensantes’ das escolas na pesquisa com os filmes ‘vistosouvidos’.
movimentos de temáticas que apareceram nas conversas acerca de filmes ‘vistosouvidos’ na formação do grupo de pesquisa para atuar – primeiras conclusões
o uso de um mapa com trajetória de viagem
feita da europa, em guerra, ao norte da África,
13 Lembremos que seu maior eleitorado esteve em Mi- nas Gerais e no Rio de Janeiro, nas duas eleições a que concorreu.
Além disso, entendíamos que era preciso tratar fortemente de migrações internas no brasil, pois esses movimentos se encontram também nas famílias a que pertencemos e na política do país. Afinal, um das ‘acusações’ fei- tas ao ex-presidente Lula, por exemplo, é de que era nordestino e sem escolarização... No caso da reeleição da presidenta Dilma rous- seff é que se deu pelo Nordeste13 como uma situação que ‘desmerecia’ sua eleição.
No entanto, a questão que incomoda, di- gamos assim, e acerca da qual é preciso com- preender como ingressa nos currículos – além de ser aquela que ocupa ‘espaçostempos’ nas mídias, no momento presente – é a de ‘refugia- dos’ estrangeiros. É mesmo? Por quê?
estas questões continuam a ser discutidas no grupo, mas a estamos trabalhando a partir desses tantos termos – e ‘espaçostempos’ di- ferentes – que giram em torno das mobilida- des humanas: migrações; refúgios; diásporas... sem descartar nenhum deles já que nos são necessários para compreender o que quere- mos trabalhar nas ‘conversas’ com os ‘prati- cantespensantes’ das escolas na pesquisa com os filmes ‘vistosouvidos’.
movimentos de temáticas que apareceram nas conversas acerca de filmes ‘vistosouvidos’ na formação do grupo de pesquisa para atuar – primeiras conclusões
o uso de um mapa com trajetória de viagem
feita da europa, em guerra, ao norte da África,
13 Lembremos que seu maior eleitorado esteve em Mi- nas Gerais e no Rio de Janeiro, nas duas eleições a que concorreu.
terminando em Casablanca, no marrocos, en- tão um protetorado francês, no início do filme “Casablanca”, permitiu ‘conversas’ desde as mais ‘conteudistas’ – “o uso de mapa é impor- tante em História e Geografia” – à discussão dos grandes percursos a fazer e que isto for- çava a tantos a caminhar em trajetos difíceis de serem percorridos e em longas distâncias, em movimentos complexos e sempre com pe- rigos iminentes. essa ideia possibilitou a apro- ximação do vídeo visto no primeiro encontro do cineclube que possuía a obra William Ken- dridge14 na qual inúmeros e diversos seres hu- manos – recortados em silhuetas pelo artista – caminham sem cessar enquanto uma música tocada de modo repetitivo e muito alta se faz ouvir. essa conversa trouxe de volta, também, a cena inicial de “A busca do ouro” na qual uma fileira de centenas de homens sobe por uma montanha coberta de neve e que precisava – segundo o narrador deste filme mudo – ser superada para se chegar à região onde havia ouro, no Alaska. “escalada à qual sucumbiam muitos”, diz também o narrador.
essas grandes distâncias, o movimento de andar sem cessar evidenciado em imagens, pontuado por músicas e sons que acentuam todas as dificuldades, foi o primeiro movimen- to que foi sendo ressaltado, filme após filme.
Assim, também, a trajetória dos dois perso- nagens que, por acaso, se encontram no ser- tão nordestino, no filme “Cinema, aspirinas e urubus” – um alemão que fugindo da guerra na europa vem vender aspirinas no Nordeste do brasil, fazendo uso de pequenos filmes de propaganda, e um brasileiro desta região que quer ir para são Paulo para ‘melhorar de vida’ – nos permite perceber também este caminhar sem fim. No caso, um rodar sem fim em um ca-
14 Série de conferências para o Charles Eliot Norton Pro- fessorship in Poetry da harvard University, realizadas nos dias 20 e 27 de março e 03, 10, 16 e 24 de abril de 2012, por William Kendridge. A obra mostrada e es- tudada na primeira destas conferências tem o título “Elogio das sombras”.
essas grandes distâncias, o movimento de andar sem cessar evidenciado em imagens, pontuado por músicas e sons que acentuam todas as dificuldades, foi o primeiro movimen- to que foi sendo ressaltado, filme após filme.
Assim, também, a trajetória dos dois perso- nagens que, por acaso, se encontram no ser- tão nordestino, no filme “Cinema, aspirinas e urubus” – um alemão que fugindo da guerra na europa vem vender aspirinas no Nordeste do brasil, fazendo uso de pequenos filmes de propaganda, e um brasileiro desta região que quer ir para são Paulo para ‘melhorar de vida’ – nos permite perceber também este caminhar sem fim. No caso, um rodar sem fim em um ca-
14 Série de conferências para o Charles Eliot Norton Pro- fessorship in Poetry da harvard University, realizadas nos dias 20 e 27 de março e 03, 10, 16 e 24 de abril de 2012, por William Kendridge. A obra mostrada e es- tudada na primeira destas conferências tem o título “Elogio das sombras”.
230
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018
Nilda Alves; Virgínia Louzada; Rebeca Brandão Rosa; Nilton Almeida; Izadora Agueda Ovelha; Noale Toja
minhão sem certeza de onde encontrar gasoli- na e água para o veículo, nem comida ou lugar seguro para dormir para os dois personagens.
um caminhão, também, carrega a grande família de pequenos agricultores da região central dos estados unidos que perdendo suas terras para uma grande companhia, vaga em direção ao oeste americano em busca de qual- quer trabalho possível no momento da grande depressão americana15, encontrando outros tantos seus iguais pelo caminho, como pode- mos acompanhar no filme “Vinhas da ira”.
A disputa de emprego precário e provi- sório mostra uma das faces terríveis destes grandes deslocamentos de população, mas o surgimento de grupos que tentam organizar ‘espaçostempos’ com um mínimo de dignidade para estes seres migrantes também pode ser discutido, como a solidariedade de pequenos agricultores pobres recebendo o alemão e o brasileiro, vendendo comida e permitindo que dormissem em seu terreno, no filme “Cinema, aspirinas e urubus”.
Ao lado disto, a exploração organizada por outros grupos vai também aparecendo e permitindo ‘conversas’ e narrativas várias: em “Casablanca”, um dono de restaurante árabe que explora jovens casais que trazem jóias para comprar sua passagem de avião para Lis- boa e o mundo sem guerra, no outro lado do Atlântico; ou os ‘coiotes’ que fazem passar me- xicanos para os estados unidos, no filme “Pão e rosas”, inteiramente sem segurança e amea- çando aqueles que não cumprem o trato feito por certa quantia de dinheiro.
A seguir de muitas peripécias para chegar a um local de refúgio, vem o período de espera. Longa espera: pelo visto para sair de um país para chegar a outro dito ‘neutro’ na guerra, como em “Casablanca”, desenvolvendo um sem número de negociações; para obter o direito
15 Iniciada com a crise financeira de 1929, a grande de- pressão econômica durou toda a década de 30 e só termina com a 2a Grande Guerra.
um caminhão, também, carrega a grande família de pequenos agricultores da região central dos estados unidos que perdendo suas terras para uma grande companhia, vaga em direção ao oeste americano em busca de qual- quer trabalho possível no momento da grande depressão americana15, encontrando outros tantos seus iguais pelo caminho, como pode- mos acompanhar no filme “Vinhas da ira”.
A disputa de emprego precário e provi- sório mostra uma das faces terríveis destes grandes deslocamentos de população, mas o surgimento de grupos que tentam organizar ‘espaçostempos’ com um mínimo de dignidade para estes seres migrantes também pode ser discutido, como a solidariedade de pequenos agricultores pobres recebendo o alemão e o brasileiro, vendendo comida e permitindo que dormissem em seu terreno, no filme “Cinema, aspirinas e urubus”.
Ao lado disto, a exploração organizada por outros grupos vai também aparecendo e permitindo ‘conversas’ e narrativas várias: em “Casablanca”, um dono de restaurante árabe que explora jovens casais que trazem jóias para comprar sua passagem de avião para Lis- boa e o mundo sem guerra, no outro lado do Atlântico; ou os ‘coiotes’ que fazem passar me- xicanos para os estados unidos, no filme “Pão e rosas”, inteiramente sem segurança e amea- çando aqueles que não cumprem o trato feito por certa quantia de dinheiro.
A seguir de muitas peripécias para chegar a um local de refúgio, vem o período de espera. Longa espera: pelo visto para sair de um país para chegar a outro dito ‘neutro’ na guerra, como em “Casablanca”, desenvolvendo um sem número de negociações; para obter o direito
15 Iniciada com a crise financeira de 1929, a grande de- pressão econômica durou toda a década de 30 e só termina com a 2a Grande Guerra.
ao ‘Green card’ para ficar nos estados unidos, como em ‘Pão e rosas”; para fugir da prisão em campos criados para este fim, depois que o brasil entra em guerra contra a Alemanha, Itália e Japão, como acontece com o personagem ale- mão em “Cinema, aspirinas e urubus”. muitos são os motivos da espera, que é sempre longa. esta é a segunda conclusão a que chegamos após ‘verouvir’ os filmes referidos.
Nas ‘conversas’ foram surgindo referências, também, aos hibridismos culturais múltiplos que vão surgindo destes contatos, em especial aqueles resultantes das migrações. seja pelas formas e produções alimentícias que são in- corporadas – o macarrão e a pizza pelos ita- lianos em são Paulo; a ‘comida japonesa’, es- pecialmente, na mesma localidade, mas que depois da passagem pelos estados unidos vira internacional; as refeições de domingo como a bacalhoada ou pratos com frutos do mar “her- dados” de portugueses e espanhóis, em espe- cial no rio de Janeiro –; seja em hábitos reli- giosos ou de modos de se vestir que, muitas vezes, aparecem relacionados, bem como mui- tas outras características culturais que exigem atenção particular nos processos de pesquisa.
Todas estas questões, nas ‘conversas’ pre- senciais e online, vão permitindo aproxima- ções com situações pessoais, locais e nacionais diversas e interrogações acerca de como estas aparecem e podem aparecer em momentos curriculares16 segundo memórias que temos de acontecimentos vividos ou de esperanças em momentos possíveis de serem vividos...
os tantos processos de preparação do gru- po de pesquisa para atuar nos permitiu que fôssemos levantando questões e encontrando caminhos que permitirão o trabalho nos cine- clubes pensados no projeto: De quem vamos tratar? Que mostras de artefatos – vídeos e textos de literatura – podemos levar aos ‘pra-
Nas ‘conversas’ foram surgindo referências, também, aos hibridismos culturais múltiplos que vão surgindo destes contatos, em especial aqueles resultantes das migrações. seja pelas formas e produções alimentícias que são in- corporadas – o macarrão e a pizza pelos ita- lianos em são Paulo; a ‘comida japonesa’, es- pecialmente, na mesma localidade, mas que depois da passagem pelos estados unidos vira internacional; as refeições de domingo como a bacalhoada ou pratos com frutos do mar “her- dados” de portugueses e espanhóis, em espe- cial no rio de Janeiro –; seja em hábitos reli- giosos ou de modos de se vestir que, muitas vezes, aparecem relacionados, bem como mui- tas outras características culturais que exigem atenção particular nos processos de pesquisa.
Todas estas questões, nas ‘conversas’ pre- senciais e online, vão permitindo aproxima- ções com situações pessoais, locais e nacionais diversas e interrogações acerca de como estas aparecem e podem aparecer em momentos curriculares16 segundo memórias que temos de acontecimentos vividos ou de esperanças em momentos possíveis de serem vividos...
os tantos processos de preparação do gru- po de pesquisa para atuar nos permitiu que fôssemos levantando questões e encontrando caminhos que permitirão o trabalho nos cine- clubes pensados no projeto: De quem vamos tratar? Que mostras de artefatos – vídeos e textos de literatura – podemos levar aos ‘pra-
16
É importante lembrar que a maioria dos membros do grupo de pesquisa é ou foi docente (e discente) em escolas públicas de educação básica.
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018 231
Imagens e sons de movimentos migratórios no cinema e nas escolas
ticantespensantes’ da pesquisa nos outros municípios, produzidos por nós? Que ‘conheci- mentossignificações’ fomos criando ao ‘vermo- souvirmos’ os filmes, conversando entre nós, e que ajudam a encaminhar a pesquisa nos cineclubes?
Por fim, nas ‘conversas’ acerca dos filmes ‘vistosouvidos’, na produção de vídeos e ou- tros artefatos17 surge à caracterização dos dois movimentos que identificam a vida de milhões de refugiados e de migrantes, em diversos pe- ríodos da Humanidade: o primeiro movimento – ‘andar, andar, andar’; o segundo movimento (talvez o anti-movimento) – ‘esperar, esperar, esperar’. estes movimentos nos levaram à cria- ção de um segundo vídeo, ainda em finaliza- ção, com o qual buscamos pensar os modos de recepção desses seres humanos que se mo- vem nas regiões que percorrem e nos permiti- ram nossas primeiras conclusões.
referências
ACNUR. Manual de procedimentos e critérios para determinação da condição de refugiados de acor- do com a convenção de 1951 e o protocolo de 1967 relativos ao estatuto de refugiados. Genebra, 2011. Disponível em: <file:///C:/Users/windows7/Down- loads/Manual_de_procedimentos_e_criterios_pa- ra_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado. pdf>. Acesso em: 18 mai. 2016.
________. Manual de proteção aos apátridas – de acordo com a Convenção de 1954 sobre o estatuto dos apátridas, 2014a. Disponível em: <http://www. acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=filead- min/Documentos/Publicaciones/2014/Manual_de_ protecao_aos_apatridas>. Acesso em: 18 mai. 2016.
________. Declaração do Brasil. Um Marco de Coo- peração e Solidariedade Regional para Fortalecer a Proteção Internacional das Pessoas Refugiadas,
17 O primeiro artefato, para além dos vídeos, que esta- mos criando é uma coleção de cartões postais que mostram, de um lado, uma foto de família ou uma fo- tografia de onde veio algum antepassado nosso e, do outro lado, alguma história acerca do que é mostrado no verso (parte do acervo familiar ou inventada).
Por fim, nas ‘conversas’ acerca dos filmes ‘vistosouvidos’, na produção de vídeos e ou- tros artefatos17 surge à caracterização dos dois movimentos que identificam a vida de milhões de refugiados e de migrantes, em diversos pe- ríodos da Humanidade: o primeiro movimento – ‘andar, andar, andar’; o segundo movimento (talvez o anti-movimento) – ‘esperar, esperar, esperar’. estes movimentos nos levaram à cria- ção de um segundo vídeo, ainda em finaliza- ção, com o qual buscamos pensar os modos de recepção desses seres humanos que se mo- vem nas regiões que percorrem e nos permiti- ram nossas primeiras conclusões.
referências
ACNUR. Manual de procedimentos e critérios para determinação da condição de refugiados de acor- do com a convenção de 1951 e o protocolo de 1967 relativos ao estatuto de refugiados. Genebra, 2011. Disponível em: <file:///C:/Users/windows7/Down- loads/Manual_de_procedimentos_e_criterios_pa- ra_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado. pdf>. Acesso em: 18 mai. 2016.
________. Manual de proteção aos apátridas – de acordo com a Convenção de 1954 sobre o estatuto dos apátridas, 2014a. Disponível em: <http://www. acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=filead- min/Documentos/Publicaciones/2014/Manual_de_ protecao_aos_apatridas>. Acesso em: 18 mai. 2016.
________. Declaração do Brasil. Um Marco de Coo- peração e Solidariedade Regional para Fortalecer a Proteção Internacional das Pessoas Refugiadas,
17 O primeiro artefato, para além dos vídeos, que esta- mos criando é uma coleção de cartões postais que mostram, de um lado, uma foto de família ou uma fo- tografia de onde veio algum antepassado nosso e, do outro lado, alguma história acerca do que é mostrado no verso (parte do acervo familiar ou inventada).
Deslocadas e Apátridas na América Latina e no Ca- ribe. brasília, +30Cartagena/ACNUR, 3 de Dezembro de 2014b. Disponível em: <file:///C:/Users/windo- ws7/Downloads/9866.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2016.
________. Refugiado ou Migrante? O ACNUR incenti- va a usar o termo correto. Genebra, 2015. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/noticias/ noticia/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva -a-usar-o-termo-correto/>. Acesso em: 18 mai. 2016.
AUGÉ, Marc. AUGÉ, Marc. ¿Por qué vivimos? Por una antropología de los fins. barcelona, Espanha: Gedi- sa, 2004.
______. Pour une anthropologie des mondes con- temporains. Paris: Flammarion, 1997.
CAMPOS, Carmen Lucia. Meu avô africano. São Paulo: Panda books, 2010. (Coleção Imigrantes do brasil).
CANDAU, Vera Maria. Educação em direitos humanos e diferenças culturais: questões e buscas. Revista Múltiplas Leituras, Piracicaba/SP, Universidade Me- todista, v. 2, n. 1, p. 65-82, jan./jun. 2009. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas -ims/index.php/ML>. Acesso em: 21 ago. 2016.
CARRASCOzA, João Anzanello. Meu avô espanhol. São Paulo: Panda books, 2009. (Coleção Imigrantes do brasil).
CARVALhO, Janete Magalhães. O cotidiano escolar como comunidade de afetos. brasília, DF; Petropó- lis, RJ: CNPq; DPetAlii, 2009.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano – artes de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves, Petró- polis, RJ: Vozes, 2012.
COUTINhO, Eduardo. O cinema documentário e a es- cuta sensível da auteridade. In: ANTONACCI, M. A.; PE- RELMUTTER, D. (Orgs). Projeto História – ética e histó- ria oral, São Paulo, PUC/SP, v. 15, p. 165-191, 1997.
DELEUzE, Gilles. Kafka – por uma literatura menor. Tra- dução Cíntia Vieira da Silva; revisão da tradução Luiz b. L. Orlandi. belo horizonte/MG: Autêntica, 2014.
___________. Sobre o teatro – um manifesto de me- nos. Tradução Fátima Saadi, Ovídio de Abreu, Ro- berto Machado. Rio de Janeiro: zahar, 2010.
________. Refugiado ou Migrante? O ACNUR incenti- va a usar o termo correto. Genebra, 2015. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/noticias/ noticia/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva -a-usar-o-termo-correto/>. Acesso em: 18 mai. 2016.
AUGÉ, Marc. AUGÉ, Marc. ¿Por qué vivimos? Por una antropología de los fins. barcelona, Espanha: Gedi- sa, 2004.
______. Pour une anthropologie des mondes con- temporains. Paris: Flammarion, 1997.
CAMPOS, Carmen Lucia. Meu avô africano. São Paulo: Panda books, 2010. (Coleção Imigrantes do brasil).
CANDAU, Vera Maria. Educação em direitos humanos e diferenças culturais: questões e buscas. Revista Múltiplas Leituras, Piracicaba/SP, Universidade Me- todista, v. 2, n. 1, p. 65-82, jan./jun. 2009. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas -ims/index.php/ML>. Acesso em: 21 ago. 2016.
CARRASCOzA, João Anzanello. Meu avô espanhol. São Paulo: Panda books, 2009. (Coleção Imigrantes do brasil).
CARVALhO, Janete Magalhães. O cotidiano escolar como comunidade de afetos. brasília, DF; Petropó- lis, RJ: CNPq; DPetAlii, 2009.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano – artes de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves, Petró- polis, RJ: Vozes, 2012.
COUTINhO, Eduardo. O cinema documentário e a es- cuta sensível da auteridade. In: ANTONACCI, M. A.; PE- RELMUTTER, D. (Orgs). Projeto História – ética e histó- ria oral, São Paulo, PUC/SP, v. 15, p. 165-191, 1997.
DELEUzE, Gilles. Kafka – por uma literatura menor. Tra- dução Cíntia Vieira da Silva; revisão da tradução Luiz b. L. Orlandi. belo horizonte/MG: Autêntica, 2014.
___________. Sobre o teatro – um manifesto de me- nos. Tradução Fátima Saadi, Ovídio de Abreu, Ro- berto Machado. Rio de Janeiro: zahar, 2010.
232
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018
Nilda Alves; Virgínia Louzada; Rebeca Brandão Rosa; Nilton Almeida; Izadora Agueda Ovelha; Noale Toja
__________. Cinema 2: a imagem-tempo. Tradução: Eloisa de Araujo Ribeiro. São Paulo: brasiliense, 2007a.
__________. Francis Bacon: lógica da sensação. Tra- dução: Roberto Machado. Rio de Janeiro, zahar, 2007b.
__________. Foucault. Tradução de J. L. Gomes. Lis- boa: Edições 70, 2005.
__________. Proust e os signos. Tradução: Antonio Piquet e Roberto Machado. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.
__________. Diferença e repetição. Tradução: Luiz Orlandi. Lisboa: Relógio D’Água, 2000.
__________. A dobra – Leibniz e o barroco. Tradução bras. Campinas, SP: Papirus, 1991.
__________. Cinema 1: a imagem-movimento. Tra- dução: Sousa Dias. São Paulo: brasiliense, 1985
__________; GUATTARI, Félix. Os personagens con- ceituais. In: DELEUzE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é filosofia? Tradução bento Prado Jr. e Alberto Alonso Munoz. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. p. 81-109.
___________. Rizoma. In: DELEUzE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs – Capitalismo e esquizofrenia. v. 1. Tradução de Aurélio Guerra Neto e. Célia Pinto Cos- ta. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. p. 15- 32.
ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Tra- dução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge zahar Editor, 1994.
FARIA, Juliana de. Meu avô japonês. São Paulo: Pan- da books, 2009. (Coleção Imigrantes do brasil).
FERRAÇO, Carlos Eduardo; SOARES, Maria da Con- ceição Silva; ALVES, Nilda. bases práticoteóricas das pesquisas com os cotidianos – Certeau em sua atualidade. Currículo sem fronteiras, Pelotas, RS, v. 16, n. 3, p. 455-467, set./dez. 2016.
FILhO, Manuel. Meu avô português. São Paulo: Pan- da books, 2010. (Coleção Imigrantes do brasil).
GODOY, Ana. Paisagens sonoras: quando a escuta recorta o invisível [divagações a propósito de algu- mas experimentações]. Revista Alegrar, v. 8, p. 01- 11, dez. 2011. Disponível em: <http://www.alegrar. com.br/revista08/pdf/paisagens_godoy_alegrar8. pdf>. Acesso em: 17 jul. 2016.
__________. Francis Bacon: lógica da sensação. Tra- dução: Roberto Machado. Rio de Janeiro, zahar, 2007b.
__________. Foucault. Tradução de J. L. Gomes. Lis- boa: Edições 70, 2005.
__________. Proust e os signos. Tradução: Antonio Piquet e Roberto Machado. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.
__________. Diferença e repetição. Tradução: Luiz Orlandi. Lisboa: Relógio D’Água, 2000.
__________. A dobra – Leibniz e o barroco. Tradução bras. Campinas, SP: Papirus, 1991.
__________. Cinema 1: a imagem-movimento. Tra- dução: Sousa Dias. São Paulo: brasiliense, 1985
__________; GUATTARI, Félix. Os personagens con- ceituais. In: DELEUzE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é filosofia? Tradução bento Prado Jr. e Alberto Alonso Munoz. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. p. 81-109.
___________. Rizoma. In: DELEUzE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs – Capitalismo e esquizofrenia. v. 1. Tradução de Aurélio Guerra Neto e. Célia Pinto Cos- ta. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. p. 15- 32.
ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Tra- dução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge zahar Editor, 1994.
FARIA, Juliana de. Meu avô japonês. São Paulo: Pan- da books, 2009. (Coleção Imigrantes do brasil).
FERRAÇO, Carlos Eduardo; SOARES, Maria da Con- ceição Silva; ALVES, Nilda. bases práticoteóricas das pesquisas com os cotidianos – Certeau em sua atualidade. Currículo sem fronteiras, Pelotas, RS, v. 16, n. 3, p. 455-467, set./dez. 2016.
FILhO, Manuel. Meu avô português. São Paulo: Pan- da books, 2010. (Coleção Imigrantes do brasil).
GODOY, Ana. Paisagens sonoras: quando a escuta recorta o invisível [divagações a propósito de algu- mas experimentações]. Revista Alegrar, v. 8, p. 01- 11, dez. 2011. Disponível em: <http://www.alegrar. com.br/revista08/pdf/paisagens_godoy_alegrar8. pdf>. Acesso em: 17 jul. 2016.
GUÉRON, Rodrigo. Da imagem ao clichê, do clichê à imagem – Deleuze, cinema e pensamento. Rio de Janeiro: Nau, 2011.
IACOCCA, Thiago. Meu avô italiano. São Paulo: Panda books, 2010. (Coleção Imigrantes do brasil).
KOSTOLIAS, Alexandre. Meu avô grego. São Paulo: Panda books, 2010. (Coleção Imigrantes do brasil).
KUCINSKI, b. Imigrantes e mascates. S. Paulo: Cia. das Letrinhas, 2016.
LARROSA, Jorge. Pedagogia profana – danças, pirue- tas e mascaradas. belo horizonte: Autêntica, 1999.
LEFEbVRE, henri. Lógica formal – lógica dialética. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1983.
MATURANA, humberto. Ciência e vida cotidiana – a ontologia das explicações científicas. In: MATURA- NA, h. Cognição, ciência e vida cotidiana. Tradução Cristina Magro - Víctor Paredes. belo horizonte: Edi- tora da UFMG, 2001. p. 125-159.
MENEzES, Thais Silva; REIS, Rossana Rocha. Direitos humanos e refúgio: uma análise sobre o momento pós-determinação do status de refugiado. Revista Brasileira de Política Internacional, brasília, Institu- to brasileiro de Relações Internacionais (IbRI), v. 56, n. 1, p. 144-162, 2013.
NOLASCO, Carlos; LEChNER, Elsa; RIbEIRO, Joana Sousa. Reflexos invertidos: as migrações clandesti- nas no filme de ficção e documentário. Revista Crí- tica de Ciências Sociais, Coimbra, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, v. 105, p. 87- 92. dez. 2014. Disponível em: <https://rccs.revues. org/5814>. Acesso em: 24 jul. 2015.
OLIVEIRA, Inês barbosa de. Currículos e pesquisas com os cotidianos: o caráter emancipatório dos currículos ‘pensadospraticados’ pelos ‘praticantes- pensantes’ dos cotidianos das escolas. In: FERRA- ÇO, Carlos Eduardo; CARVALhO, Janete Magalhães. (Orgs.). Currículos, pesquisas, conhecimentos e produção de subjetividades. Petrópolis, RJ: DPetAl- li, 2012. p. 47-70.
SANTAFÉ, Vladimir Lacerda. As imagens da multidão. Lugar Comum, Rede Universidade Nômade, n. 40, p. 67-89, 10 dez. 2013.
IACOCCA, Thiago. Meu avô italiano. São Paulo: Panda books, 2010. (Coleção Imigrantes do brasil).
KOSTOLIAS, Alexandre. Meu avô grego. São Paulo: Panda books, 2010. (Coleção Imigrantes do brasil).
KUCINSKI, b. Imigrantes e mascates. S. Paulo: Cia. das Letrinhas, 2016.
LARROSA, Jorge. Pedagogia profana – danças, pirue- tas e mascaradas. belo horizonte: Autêntica, 1999.
LEFEbVRE, henri. Lógica formal – lógica dialética. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1983.
MATURANA, humberto. Ciência e vida cotidiana – a ontologia das explicações científicas. In: MATURA- NA, h. Cognição, ciência e vida cotidiana. Tradução Cristina Magro - Víctor Paredes. belo horizonte: Edi- tora da UFMG, 2001. p. 125-159.
MENEzES, Thais Silva; REIS, Rossana Rocha. Direitos humanos e refúgio: uma análise sobre o momento pós-determinação do status de refugiado. Revista Brasileira de Política Internacional, brasília, Institu- to brasileiro de Relações Internacionais (IbRI), v. 56, n. 1, p. 144-162, 2013.
NOLASCO, Carlos; LEChNER, Elsa; RIbEIRO, Joana Sousa. Reflexos invertidos: as migrações clandesti- nas no filme de ficção e documentário. Revista Crí- tica de Ciências Sociais, Coimbra, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, v. 105, p. 87- 92. dez. 2014. Disponível em: <https://rccs.revues. org/5814>. Acesso em: 24 jul. 2015.
OLIVEIRA, Inês barbosa de. Currículos e pesquisas com os cotidianos: o caráter emancipatório dos currículos ‘pensadospraticados’ pelos ‘praticantes- pensantes’ dos cotidianos das escolas. In: FERRA- ÇO, Carlos Eduardo; CARVALhO, Janete Magalhães. (Orgs.). Currículos, pesquisas, conhecimentos e produção de subjetividades. Petrópolis, RJ: DPetAl- li, 2012. p. 47-70.
SANTAFÉ, Vladimir Lacerda. As imagens da multidão. Lugar Comum, Rede Universidade Nômade, n. 40, p. 67-89, 10 dez. 2013.
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018 233
Imagens e sons de movimentos migratórios no cinema e nas escolas
SChURMANS, Fabrice. A representação do migrante clandestino no cinema contemporâneo: efeitos e cenas de fronteira. Revista Crítica de Ciências So- ciais, Coimbra, Centro de Estudos Sociais da Univer- sidade de Coimbra, v. 105, p. 93-112, dez. 2014. Dis- ponível em: <https://rccs.revues.org/5814>. Acesso em: 24 jul. 2015.
SzANIECKI, bárbara. Fotografia, parrésia e poética- política dos vagalumes. Lugar comum, Rede Univer- sidade Nômade, n. 42, p. 155-166, 25 ago. 2014. (Com fotografias de Kátia Schilirò).
VASCONCELLOS, Jorge. Teatro & filosofia em Gilles Deleuze – a ideia de personagem conceitual como encenação filosófica. In: Conexões: Deleuze e ima- gem e pensamento e... Petrópolis, RJ: DPetAlii, 2009. p. 205-214.
WANG, Dongyan. Meu avô chinês. São Paulo: Panda books, 2012. (Coleção Imigrantes do brasil).
SzANIECKI, bárbara. Fotografia, parrésia e poética- política dos vagalumes. Lugar comum, Rede Univer- sidade Nômade, n. 42, p. 155-166, 25 ago. 2014. (Com fotografias de Kátia Schilirò).
VASCONCELLOS, Jorge. Teatro & filosofia em Gilles Deleuze – a ideia de personagem conceitual como encenação filosófica. In: Conexões: Deleuze e ima- gem e pensamento e... Petrópolis, RJ: DPetAlii, 2009. p. 205-214.
WANG, Dongyan. Meu avô chinês. São Paulo: Panda books, 2012. (Coleção Imigrantes do brasil).
WILLE, Martin. Meu avô alemão. São Paulo: Panda books, 2012. (Coleção Imigrantes do brasil).
zAKzUK, Maisa. Meu avô árabe. São Paulo: Panda books, 2012. (Coleção Imigrantes do brasil)
Filmografia
Em busca do ouro (1925), com direção de Charlie
Chaplin (USA).
Vinhas da ira (1940), com direção de John Ford (USA), baseado em obra de John Steinbeck.
Pão e rosas (2000), com direção de Ken Loach (co- produção da França, Reino Unido, Espanha, Alema- nha e Suíça).
Cinema, aspirinas e urubus (2005), com direção de Marcelo Gomes (brasil).
Recebido em: 15.11.2017 Aprovado em: 07.03.2018
zAKzUK, Maisa. Meu avô árabe. São Paulo: Panda books, 2012. (Coleção Imigrantes do brasil)
Filmografia
Em busca do ouro (1925), com direção de Charlie
Chaplin (USA).
Vinhas da ira (1940), com direção de John Ford (USA), baseado em obra de John Steinbeck.
Pão e rosas (2000), com direção de Ken Loach (co- produção da França, Reino Unido, Espanha, Alema- nha e Suíça).
Cinema, aspirinas e urubus (2005), com direção de Marcelo Gomes (brasil).
Recebido em: 15.11.2017 Aprovado em: 07.03.2018
Nilda Alves é Professora-Titular na Faculdade de Educação/UERJ e Faculdade de Educação/UFF (aposentada em am- bas). Pesquisadora visitante na UERJ. Ex-presidente da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação), AbdC (Associação brasileira de Currículo) e ASDUERJ (Associação dos Docentes da UERJ). Organizadora de livros, séries e coleções, com artigos publica- dos no brasil e no exterior. Fundadora, em 2001, e coordenadora, até 2014, do Laboratório Educação e Imagem/ProPEd/ UERJ. (www.lab-eduimagem.pro.br). Pesquisadora 1 A/CNPq. e-mail: nildag.alves@gmail.com
Endereço institucional: UERJ – R. São Francisco Xavier, 524 – Sala 12. 019 b. Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-900. Telefone: (21) 22220056.
Virgínia Louzada é Professora Adjunta na Faculdade de Educação/UERJ. Integrante do Grupo de Pesquisa “Currículos, redes educativas e imagens”, coordenado pela Profa Dra Nilda Alves. e-mail: virginialouzada.feuerj@gmail.com
Endereço institucional: UERJ – R. São Francisco Xavier, 524 – Sala 12. 019 b. Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-900. Telefones: (21) 3449-0802 e (21) 99710-0802.
Rebeca Brandão Rosa é doutoranda em Educação – ProPed/UERJ. Integrante do Grupo de Pesquisa “Currículos, redes educativas e imagens”, coordenado pela Profa Dra Nilda Alves. e-mail: rebecasbr@gmail.com
Nilton Almeida é mestrando em Educação – ProPed/UERJ. Integrante do Grupo de Pesquisa “Currículos, redes educati- vas e imagens”, coordenado pela Profa Dra Nilda Alves. e-mail: niltonsan01@gmail.com
UERJ – R. São Francisco Xavier, 524 – Sala 12. 019 b. Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-900. Telefone: (21) 990339609. Izadora Águeda Ovelha é mestranda em Educação – ProPed/UERJ. Integrante do Grupo de Pesquisa “Currículos, redes
educativas e imagens”, coordenado pela Profa Dra Nilda Alves. e-mail: izadoraagueda@yahoo.com.br
UERJ – R. São Francisco Xavier, 524 – Sala 12. 019 b. Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-900. Telefone: (21) 991610793.
Noale Toja é doutoranda em Educação – ProPed/UERJ.Integrante do Grupo de Pesquisa “Currículos, redes educativas e imagens”, coordenado pela Profa Dra Nilda Alves. e-mail: noaletoja22@gmail.com
UERJ – R. São Francisco Xavier, 524 – Sala 12. 019 b. Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-900. Telefone: (21) 98749-6869.
Endereço institucional: UERJ – R. São Francisco Xavier, 524 – Sala 12. 019 b. Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-900. Telefone: (21) 22220056.
Virgínia Louzada é Professora Adjunta na Faculdade de Educação/UERJ. Integrante do Grupo de Pesquisa “Currículos, redes educativas e imagens”, coordenado pela Profa Dra Nilda Alves. e-mail: virginialouzada.feuerj@gmail.com
Endereço institucional: UERJ – R. São Francisco Xavier, 524 – Sala 12. 019 b. Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-900. Telefones: (21) 3449-0802 e (21) 99710-0802.
Rebeca Brandão Rosa é doutoranda em Educação – ProPed/UERJ. Integrante do Grupo de Pesquisa “Currículos, redes educativas e imagens”, coordenado pela Profa Dra Nilda Alves. e-mail: rebecasbr@gmail.com
Nilton Almeida é mestrando em Educação – ProPed/UERJ. Integrante do Grupo de Pesquisa “Currículos, redes educati- vas e imagens”, coordenado pela Profa Dra Nilda Alves. e-mail: niltonsan01@gmail.com
UERJ – R. São Francisco Xavier, 524 – Sala 12. 019 b. Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-900. Telefone: (21) 990339609. Izadora Águeda Ovelha é mestranda em Educação – ProPed/UERJ. Integrante do Grupo de Pesquisa “Currículos, redes
educativas e imagens”, coordenado pela Profa Dra Nilda Alves. e-mail: izadoraagueda@yahoo.com.br
UERJ – R. São Francisco Xavier, 524 – Sala 12. 019 b. Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-900. Telefone: (21) 991610793.
Noale Toja é doutoranda em Educação – ProPed/UERJ.Integrante do Grupo de Pesquisa “Currículos, redes educativas e imagens”, coordenado pela Profa Dra Nilda Alves. e-mail: noaletoja22@gmail.com
UERJ – R. São Francisco Xavier, 524 – Sala 12. 019 b. Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-900. Telefone: (21) 98749-6869.
234
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 07, p. 221-234, jan./abr. 2018
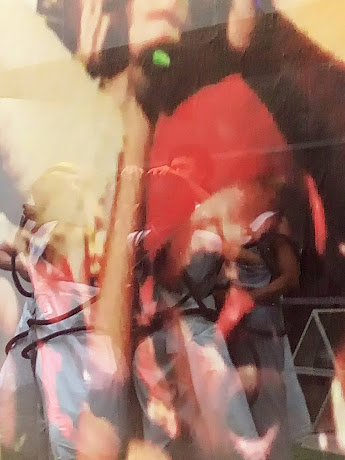

Comentários
Postar um comentário