PROLIFERANTES MODOS DE SABERESFAZERES COM ARTE E TECNOLOGIA DIGITAIS: POTÊNCIAS DE EXISTÊNCIAS E CURRÍCULOS OUTROS
PROLIFERANTES MODOS DE SABERESFAZERES COM ARTE E TECNOLOGIA DIGITAIS: POTÊNCIAS DE EXISTÊNCIAS E CURRÍCULOS OUTROS
Resumo:
Em que medida as pedagogias emancipadoras podem participar de uma educação crítica dos meios culturais, sociais e de comunicação, especialmente as mídias digitais? Como é que elas podem contribuir para a tessitura dos conhecimentossignificações num diálogo crítico entre os diferentes? Como é que as pedagogias emancipadoras ajudam a criar espaçostempos educacionais em lugares mais inclusivos? Sensível a essas inquietações que estão permeadas nas maneiras de aprenderensinar nos saberesfazeres cotidianos, que este artigo propõe alinhavar os processos emancipatórios e curriculares de uma ação social e educativa voltada para jovens que vivem nas periferias de uma capital brasileira, sobre uso e consumo das mídias digitais. Para essa urdidura, estivemos com Certeau, Boaventura e Alves para tecer, alimentar, fermentar o pensamento com essas experiências.
Palavras-chave: Sociologia das emergências. Cotidianos. Arte. Processos curriculares. Mídias digitais.
“É preciso aprender a olhar e escutar sem medo de deixar de ser, sem medo de deixar o outro ser” Maturana.
Introdução: periferias proliferantes
“Proliferar” é decompor a matéria orgânica por meio da fermentação, contaminação e transformá-la em minerais para produção de matérias vivas. “Periferias” é tudo o que está à margem, no entorno, circunscrevendo um centro. Esse movimento é geográfico, geométrico, político, cultural e marginal. Está no campo da objetividade e da subjetividade.
Proliferar faz parte do fazer cotidiano diante das buscas em fazer-nos no contato com os outros. “Outros” que Certeau (1998) nos apresenta como mecanismos de apropriação dos artefatos, bricolagens e astúcias em processos “praticantes”. Decompor é esmiuçar esses fazeres cotidianos que nos levam a encontros com a arte e a tecnologia nas narrativas audiovisuais diante de situações marginais, ocultas ou invisíveis. É Trabalhar com as vibrações livres marcadas pelas vivências que manifestam as inquietações com o compromisso político no fazer cotidiano, nos processos de subjetivação imbricados nas relações de afetos.
Viver em espaços periféricos, se produz uma baixa autoestima dentro das estruturas colonialistas, se cresci com “vergonha” de ser quem se é, porque as imagens produzidas sobre as periferias e das pessoas que estão neste lugar é de extrema violência e ignorância. É uma imagem produzida pela “colonialidade eurocêntrica”, incentivada pela mídia hegemônica, ideia capitalista de subserviência e escravidão dos pensamentos e ações de praticantes que comungam de saberesfazeres ancestrais.
A colonialidade nega esses saberesfazeres, sentimentos, emoções, percepções, tornando as pessoas que estão à margem desse sistema estigmatizadas e invalidadas dentro de processos culturais, intelectuais e científicos. Porém, há uma criação no cerne das experiências cotidianas em que os praticantespensantes produzem com traços de “decolonialidade” e que, na contemporaneidade, com os “usos” (CERTEAU, 1998) democráticos da audiovisualidade digital, manifestam expressões que evidenciam essa criação.
Este ensaio traz questões que envolvem as maneiras de criar espaços inventivos no fazer cotidiano com jovens de periferias, participantes de uma pesquisa que envolve um projeto, abarcado dentro da ação multiplicadora, que busca dar visibilidade à potência que está nesta produção e evidenciá-la no universo acadêmico e científico, ao contrário de julgá-la como inválida na construção social, política e cultural mediada pelo capitalismo. Santos (2002) denomina de desperdício social, a negação do valor das experiências sociais pelo capitalismo e o neoliberalismo, e chama a atenção para a necessidade de pensar uma sociologia das emergências, provocadas pela ecologia do saber. As experiências das periferias nos inspiraram a pensar a cerca dos usos da arte e da tecnologia digital na expressão de desejos e espaços inventivos de estar na vida.
Imagem 1 – Laboratórios de experimentações
Legenda: uso do agar-agar para fermentação simbólica dos projetos.
Fonte: todas as imagens desse artigo são parte do acervo pessoal da autora.
Uma tensão que emerge nessa reflexão em torno desse projeto é que o mesmo é mantido como programa de responsabilidade social de um instituto ligado a uma empresa de telefonia multinacional. Como atuar neste lugar que provoca outras manifestações cotidianas na expressão de jovens de periferias sem ficar refém, e já estando, de um sistema capitalista com interesses mercantis?
Programas de responsabilidade social, ligados a empresas privadas (assim como de agências nacionais e internacionais), pela justificativa da democracia de direitos sociais, impera como linha de comando, de neutralização e de controle de uma suposta paz e distribuição de bens sociais, dentro de uma suposta lógica democrática que, numa estrutura compensatória, salvaguarda interesses da estrutura econômica ocidental e da política neoliberal.
Esse fenômeno aparece na década de 90, quando a diversidade cultural na América Latina é evidenciada nos debates políticos, sendo inserido nas políticas públicas e reformas educativas, constitucionais, tornando um importante momento histórico. Essa mudança política, está relacionada à dinâmica das lutas dos movimentos sociais, por direitos e reconhecimento do valor das existências intrínsecas as ancestralidades.
Walsh nos desafia a olhar pelo prisma da trinca da globalização poder-capital-mercado:
o marco central para tal contextualização encontra-se na histórica articulação entre a ideia de ‘raça’ como instrumento de classificação e controle social e o desenvolvimento do capitalismo mundial (moderno, colonial, eurocêntrico), que se iniciou como parte constitutiva da história da América. […] Essa colonialidade do poder – que ainda perdura – estabeleceu e fixou uma hierarquia racializada: brancos (europeus), mestiços e, apagando suas diferenças históricas, culturais e linguísticas, ‘índios’ e ‘negros’ como identidades comuns e negativas. A suposta superioridade ‘natural’ desenvolveu […] as categorias binárias, oriente-ocidente, primitivo-civilizado, irracional-racional, mágico/mítico-científico e tradicional-moderno justificam a superioridade e a inferioridade – razão e não razão, humanização e desumanização (colonialidade do ser) e pressupõem o eurocentrismo como perspectiva hegemônica (colonialidade do saber) […]. É tal operação que põe em dúvida, […] o valor humano destes seres, pessoas que, por sua cor e suas raízes ancestrais, ficam claramente ‘marcadas’[…], pelo caráter da ‘desumanização da raça na modernidade configura a falta de humanização das pessoas colonizadas’, que os distanciam da modernidade, da razão e das faculdades cognitivas (WALSH, 2009, p. 14-15).
No entanto, nesse universo ampliado da política de mercado neoliberal e da política compensatória de inclusão social e cultural, acontece as relações entre sujeitos que tem interesses humanizados que atuam no saberfazer cotidiano dessas instituições e programas. Por isso o risco da generalização entre as relações institucionais e os praticantespensantes, pode, da mesma forma, gerar invisibilidade das singularidades que atuam nas brechas dessas políticas assistencialistas, por tratar de pessoas envolvidas nestes lugares com compromissos de uma vontade de mudança social. Como lidar, então, nesse fio da navalha entre a colonialidade e a decolonialidade, quando se trata em desenvolver projetos sociais? Como usar de astúcias e bricolagens através das táticas, como sugere Certeau (1998), nas ações sociais que estrategicamente existem em função de uma permanência colonialista e que, nos seus usos cotidianos, os praticantespensantes com suas astúcias criam linhas de fuga, brechas, frestas nas relações de dominação e nos usos de artefatos tecnológicos e artísticos driblam e se aproveitam das fendas da colonialidade?
Imagem 2 - Laboratórios de experimentações
Legenda: investigação de narrativas
Proliferantes insolentes: saberfazer pedagógico e formativo criado no cotidiano de um projeto
Nos encontros com Santos (2002), deparei-me com sua crítica a noção de “razão indolente” como um modelo de racionalidade ao que se refere à ideia hegemônica do pensamento científico ocidental como conhecimento verdadeiro, monolítico que despreza e desqualifica a multiplicidade dos conhecimentos produzidos em “experiências menores”, (DELEUZE, 1977 apud GALLO, 2007). Nesse sentido provoco brincar com a ideia de “proliferantes insolentes” em contraponto a razão indolente, para fazer proliferar uma pedagogia insolente tecida por fazeres em laboratórios de arte e tecnologias digitais que se apropria das relações ordinárias como um campo do possível no acontecimento em profundidade – ao contrário de uma ação que atinge em extensão para assistir a muitos, criando totalidades e controles, com políticas de institucionalização generalizantes, que desconsideram as singularidades, multiplicidades e tensões imbricadas nos saberesfazeres cotidianos.
Imagem 3 – Conversa a cerca dos projetos
“Proliferantes insolentes” provoca uma pedagogia do atrevimento/encorajamento no que tange perceber as democracias nas relações horizontais de atuação, que possa levar a ensaios de “emancipação social”, que defende Santos “como um efeito agregado das lutas contra as diferentes formas de poder social e afere-se pelo êxito com que vão transformando relações desiguais de poder em relações da autoridade partilhada em cada um dos espaços-tempos. (SANTOS, 2016, p. 138)”.
Imagem 4 - Laboratórios de experimentações
Identificamos um valor nos usos das artes e tecnologias digitais como um laboratório de desenvolvimento de democracias participativas como possibilidades de gestão coletiva e horizontal no processo de aprendizado.
O uso das artes e tecnologias digitais como experimentos de outros arranjos fora dos padrões convencionais de arte dentro da perspectiva da colonialidade, deflagra a produção de sensações, consciência e reconhecimento do corpo na exploração dos sentidos, que leva à percepção da pessoa na sua integridade singular e múltipla. Ao mesmo tempo, corre o risco de tracejar caminhos padronizantes de reprodução da cultura hegemônica, nessa tensão desfia-se na inventividade e na provocação de espaçostempos de existência, como um maravilhamento da potência de reconhecer em si, um alguém que urdi junto a outros fios, um tecido malhado numa trama de re-existências, como processos de decolonialidade.
Currículos outros: pedagogia do encorajamento, pedagogia insolente
Vivemos entre 2015 e 2016 um contexto político que negligenciou a ética e a estética na política nacional. Sentimentos de indignação e impotência diante da democracia ameaçada pelo movimento golpista que se instalou no Brasil e criou um estado de mobilização silenciosa na equipe que conduzia a ação. Fomos desafiados a pensar mais intensamente sobre as questões de participação e conectá-las a nossas metodologias. Como desenvolver uma pedagogia que levasse a ações ainda mais democráticas? Um lugar de tensão e inquietações desafiava a experimentar outros fazeres. Queríamos experimentar saberesfazeres subversivos, fora dos padrões acadêmicos e de pesquisas convencionais, tensionados por práticasteorias estruturantes e hierarquizantes arraigados de cientificidade eurocêntrica.
Onde ficam os pontos de negociação na tessitura de saberesfazeres que são enredados cotidianamente no fazer entre equipe de educadores, artistas e jovens artistas? Como diluir essas práticasteorias hegemônicas? Arte como um lugar de expressões de estéticas das periferias e como um caminho livre, aberto, do improviso, do experimento, favorece essa investigação metodológica de rabiscos de outras jeitos de criação que estão ou são forçosamente invisíveis nessas expressões.
Imagem 5 - Laboratórios de experimentações
A orientação do trabalho foi permeado pelo “acontecimento”, com um planejamento aberto, intuitivo a ser trabalhado junto com os jovens e educadores no fazer cotidiano e na efervescência de multiplicidades culturais, religiosas e sociais que criou um campo de empatia com as singularidades de cada um. Buscar o que tem por dentro de cada expressão e manifestação de culturas e fazer emergir reflexões sobre o modo de existência neste campo e ter a arte como deflagradora de experiências de desobediência de regras, de quebra de conceitos estabelecidos por uma cultura hegemônica.
Esses encaminhamentos se revelaram maior do que a relação de respeito ou tolerância às diferenças, que impregna a lógica neoliberal da modernidade, como tensiona Walsh:
nesse sentido, o reconhecimento e respeito à diversidade cultural se convertem em uma nova estratégia de dominação que ofusca e mantém, ao mesmo tempo, a diferença colonial através da retórica discursiva do multiculturalismo e sua ferramenta conceitual, a interculturalidade “funcional”, entendida de maneira integracionista. Essa retórica e ferramenta não apontam para a criação de sociedades mais equitativas e igualitárias, mas para o controle do conflito étnico e a conservação da estabilidade social, com o fim de impulsionar os imperativos econômicos do modelo neoliberal de acumulação capitalista, agora “incluindo” os grupos historicamente excluídos (WALSH, 2009, p. 16).
As diferenças eram tecidas pelas empatias e afetos, num estado de confiança, “confiar – fiar com – fiar juntos”. Nesse “emaranhado de fibras” desfio com Alves (2002) possíveis desafios na tessitura de conhecimentos gerado nos vários processos que se dão nas práticas sociais, assim como as interferências de tantos outros praticantespensantes, que em sua diversidade, complexificam e enriquecem esse processo.
Imagem 6 - Laboratórios de experimentações
Um caminho a ser pensado
Vivenciamos acontecimentos que, do ponto de vista deleuziano, se dá na convivência com as questões apresentadas no campo sensível de afetações; então, investigamos processos que dessem conta das conexões entre realidades e desejos em realizar projetos que pudessem incomodar e inspirar. O incômodo como um encontro movediço que tira da zona de conforto, que faz doer.
Num sistema capitalista há aqueles que ignoram a dor alheia. Como criar brechas como alternativa à razão indolente? Santos (2002, p.3), propõe pensar sobre a sociologia das emergências, como o compromisso de visibilizar as experiências sociais existentes dentro de uma totalidade num sistema hegemônico, fazendo com que elas deixem de ser ausentes para serem presentes. Quebrar com a condição produzida hegemonicamente de não-existente e não-credível e transformar as relações impossíveis em possíveis, é alargar as possibilidades de experiências que provocam alternativas viáveis, singulares, plurais e concretas de uma existência elaborada no presente, nas relações de afeto, na superação de um mundo globalizante, capitalista e estagnado. Inspiração a outros movimentos.
Talvez um caminho seja encontrar na arte e nas tecnologias digitais uma postura transgressora, percebendo a potência de fazeres cotidianos que arriscam escapar em brechas subversivas numa pedagogia do encorajamento, numa pedagogia do atrevimento. Uma razão insolente para uma razão indolente.
No lugar de dar voz, experimentar o lugar da escuta, a relação empatia nos encontros entre as múltiplas singularidades mediadas pelos afetos fazendo uso das artes integradas às tecnologias, como artefatos e dispositivos de linguagens, no acontecimento, com o reconhecimento dos sujeitos nos seus saberesfazeres, numa experimentação de práticas democráticas e criativas, que desmistificam estigmas hierarquizantes. E como lembra Maturana (1998, p. 54) “É preciso aprender a olhar e escutar sem medo de deixar de ser, sem medo de deixar o outro ser”.
REFERÊNCIAS
ALVES, Nilda. Tecer conhecimento em rede. In: ALVES, N; GARCIA, Regina Leite (Orgs). O Sentido da Escola. Rio de Janeiro: Ed. DP&A, 2002.
CERTEAU, Michel. A Invenção do Cotidiano - artes do fazer. Petrópolis: Vozes, 1998.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é Filosofia? São Paulo: Ed.34, 1992.
_______. Mil Platôs, capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1.1995. Ed. São Paulo: Ed. 34, 2007.
_______. Kafka – para uma literatura menor. Disponível em: <http://conexoesclinicas.com.br/wp-content/uploads/2016/02/kafka-_para_uma_literatura_menor-_deleuz.pdf>. Acesso em: 8 Abr. 2018. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003 apud GALLO, Silvio. Em torno de uma educação menor, por Silvio Gallo. Net. Educação Musical - práticas para sala de aula. (escrito por Rosa Lambert). Seção: Psicologia da educação textos. 21 Jun. 2011. Disponível em: <https://maiseducacaomusical.wordpress.com/2011/06/21/texto-em-torno-de-uma-educacao-menor-por-silvio-gallo/>. Acesso em: 16 Abr. 2017.
GALLO, S. Em torno de uma educação menor. Disponível em: <file:///C:/Users/noale/Downloads/25926-98931-1-PB.pdf>. Acesso em: 16 de abr. 2017.
____. Deleuze e a Educação – parte um: Deleuze e a filosofia. Disponível em: <http://www.ufjf.br/grupar/files/2014/09/deleuze_e_a_educacao_parte_um.pdf>. Acesso em: 12/04/2017. Ilha de Santa Catarina: UFSC, 2007.
MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.
OLIVEIRA, Inês Barbosa de. Currículos e pesquisas com os cotidianos: o caráter emancipatório dos currículos ‘pensadospraticados’ pelos ‘praticantespensantes’ dos cotidianos das escolas. In: Carlos Eduardo Ferraço e Janete Magalhães Carvalho (Org.). Currículos, pesquisas, conhecimentos e produção de subjetividades. 1. ed. Petrópolis: DP et Alli, 2012, p. 47-70.
SANTOS, Boaventura de Souza. A difícil democracia: reinventar as esquerdas. São Paulo: Bom tempo, 2016.
_______. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. Revista Crítica de Ciências Sociais. Número: 63, Ano: 2002, colocado online no dia 01 Out. 2012. Acesso em: 8 Abr. 2018. Disponível em: <http://journals.openedition.org/rccs/1285>; DOI : 10.4000/rccs.1285. 2012, p. 237-280
WALSH, Catherine. Interculturalidade Crítica e Pedagogia Decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. In: CANDAU, Vera Maria. (Org). Educação Intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009, p. 12-43.
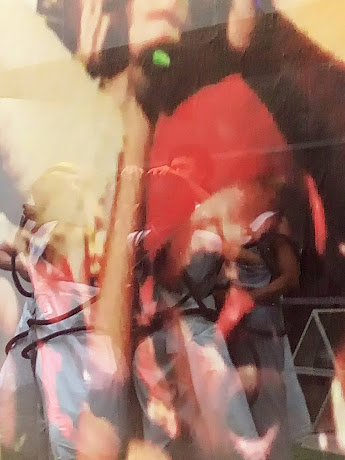

Comentários
Postar um comentário